| 1/5/2009 Os vampiros são nossos amigos? | ||
| No cinema, a transgressão do vampiro foi dar a uma simples "aceitação da diferença". Será isto o futuro do filme de vampiros? A saison 2008/2009 foi cruel para os apreciadores de uma boa mordidela no pescoço. Alan Ball, o criador de "Beleza Americana" e de "Sete Palmos de Terra", transformou os romances de Charlaine Harris sobre vampiros que "saem do armário" e revelam a sua existência quotidiana na série da HBO "Sangue Fresco" (em Portugal no canal MOV). O cineasta sueco Tomas Alfredson criou uma sensação global com o seu filme de vampiros "Deixa-me Entrar" (estreia em Portugal em Maio), adaptação do romance de John Ajvide Lindquist sobre um miúdo solitário e maltratado que se trava de amizade com a vizinha adolescente que é uma vampira. E a adaptação cinematográfica do primeiro dos quatro romances de Stephenie Meyer sobre a paixão transcendente entre uma adolescente e o vampiro que se recusa a mordê-la por a amar demais, "Crepúsculo", foi um enorme êxito comercial em todo o mundo. Desde que Bram Stoker fixou a imagem do vampiro no século XIX com o seu "Drácula", o morto-vivo que se alimenta de sangue humano tornou-se numa figura recorrente do cinema de terror, funcionando simultaneamente como metáfora da luxúria e do sexo, da atracção do abismo, do prazer do proibido, e como retrato de um Don Juan vilão e misógino. O vampiro pôde desde sempre ser lido como sedutor canalha que desvia as donzelas castas do bom caminho, interessado apenas no prazer efémero da consumação, com a mordidela luxuriante e a partilha do sangue como metáfora da penetração sexual. Mas, com o tempo, os vampiros foram ganhando uma complexidade que transcendia a simples redução ao estereótipo da criatura sobrenatural sedenta. As "Crónicas do Vampiro" de Anne Rice, a adaptação de "Drácula" por Coppola ou os "Viciosos" de Abel Ferrara transformaram o vampiro de vilão lascivo em criatura complexa, prisioneira de um limbo entre o humano, o animal e o sobrenatural, capaz de emoções e remorsos, e abriram as portas a uma componente existencialista e hiper-romântica. Sem negar a metáfora sexual (os livros de Rice incorporavam inclusive elementos homoeróticos), mas tornando-a em parte integrante de uma mitologia mais reconhecivelmente humana - o Drácula de Coppola é tanto carrasco como vítima da sua paixão transcendente. Os vampiros passavam de "papões" a "marginais", no sentido de gente que vive "à margem" da sociedade. O que, então, tanto "Crepúsculo" como "Sangue Fresco" fazem é dar o passo seguinte na mitologia do vampiro, transformando-os de "marginais" em "minoria" que apenas quer viver em paz integrada na sociedade: no mundo de Charlaine Harris e Alan Ball, os vampiros revelaram a sua existência, alimentam-se de plasma sintético vendido ao balcão e começam a pugnar pela sua aceitação na sociedade normal; o vampiro Edward de Stephenie Meyer pertence a uma família "vegetariana" que recusa o sangue humano e coexiste pacatamente. As mordidelas são agora limitadas aos "vampiros maus" que não controlam o animal que há em si, a ambiguidade existencialista é dividida entre os "bons vampiros" que não hesitam em assumir um papel de paladinos do Bem e os "maus vampiros" que continuam a morder gente - como se a "espécie" tivesse evoluído naturalmente para um patamar superior, capaz de desenvolver uma inteligência e uma sociedade (vide a mitologia da série "Underworld" ou o modo como essa evolução se prolonga para mitologias paralelas como os zombies de George Romero). Mas essa evolução retira-lhes também parte da sua carga transgressora, reduzindo a estranheza do vampiro a uma simples "aceitação da diferença" que torna visível e corpóreo a coexistência em cada um de nós da luz e da escuridão, do bem e do mal, do humano e do animal. Será isto o futuro do filme de vampiros? Jorge Mourinha (PÚBLICO) | ||
| 15/5/2009 Os novos cinéfilos | ||
| Antes do vídeo, do DVD, dos canais televisivos pay-per-view e da Internet, os cinéfilos dependiam do que as salas exibiam ou do que a televisão ia oferecendo. Hoje, o cinéfilo transformou-se no seu próprio programador. Vê Nouvelle Vague e filmes série B, compra DVD e pirateia na Internet e ainda vai à Cinemateca. Quem é o novo cinéfilo? E cinefilia ainda quer dizer alguma coisa? "Cada um o Seu Cinema", um filme que ontem estreou, e "Dicionário de Cinema para Snobs", um livro que acaba de ser editado em Portugal, deixam pistas. João Félix nasceu em 1943 e "já tinha a barriguinha cheia de peplums como 'Quo Vadis'", vistos em salas de cinema, quando o primeiro televisor chegou a Ílhavo, perto de Aveiro, de onde é natural. David Teles Pereira tem 23 anos, passou a infância em Elvas e descobriu o cinema do outro lado da fronteira, com os filmes de terror de série B que comprava nos video-clubes espanhóis. Ambos são cinéfilos compulsivos, mas não parecem ser muitos os pontos de contacto entre a cinefilia do engenheiro reformado e a do jovem advogado e co-director da revista de poesia "Criatura". No prefácio ao "Dicionário de Cinema para Snobs", dos críticos americanos David Kamp e Lawrence Levi, que a Tinta da China acabou de editar em Portugal, Pedro Mexia, subdirector da Cinemateca, avisa que o livro não trata do "cinéfilo clássico", que "sabe tudo do expressionismo alemão e nunca confunde William Wyler com William Wellman", mas antes de "uma criatura mais recente, cujo modelo não é Truffaut mas Tarantino", que "conhece as referências canónicas mas exibe um gosto mais contemporâneo e abrangente", que "não cresceu em cinematecas mas em lojas de vídeo". Essa ideia de que a relação do espectador com o cinema mudou radicalmente está também em boa parte das curtas-metragens do filme colectivo "Cada Um o Seu Cinema", encomendado pelo festival de Cannes para comemorar o seu 60º aniversário, em 2007, e que ontem chegou finalmente aos cinemas portugueses. O que distingue a nova da velha cinefilia não passa apenas pelas facilidades de acesso, mas também por uma subversiva indiferença ao cânone de cineastas e obras que gerações de académicos e críticos foram consagrando. João Félix gosta de "África Minha", de Sydney Pollack, e admite-o com o prazer malandro de quem confessa um pecado. David Teles Pereira é fã da saga "The Evil Dead", de Sam Raimi, ou de "A Noite dos Mortos Vivos", o filme de estreia de George Romero, e di-lo com a mesma naturalidade com que fala da sua admiração por "Roma, Cidade Aberta", de Rosselini, ou "8 1/2", de Fellini, que viu em ciclos da Cinemateca. Ouvir João Félix contar como se tornou cinéfilo é visitar um mundo desaparecido, no qual os projeccionistas paravam o filme para repetir alguma cena mais vagamente erótica - "um daqueles beijos à Hollywood, quase sempre muito mal dados" - que a assistência acabara de aplaudir. Ainda hoje, a sala de cinema é o lugar onde se sente mais confortável, embora lamente já não ver "o cone de luz, com aquelas poeiras a cintilar". Fanático do rigor na exibição, fica doido quando os projeccionistas se enganam e usam o "cinemascope" num filme com outro formato, e também detesta o ruído de pipocas nos novos multiplex. Personificação do cavalheiro afável e vagamente distraído, custa a crer que um dia destes, numa sala de cinema, tenha dado uma sonora chapada num rapaz que insistia em não se calar enquanto o filme corria no ecrã. "Para ver os extremos de violência a que pode chegar um cinéfilo!", diz, como se fora um dr. Jekyll a lamentar os desmandos de mr. Hyde. Godard e Godzilla David Teles Pereira tem pena de o horário de trabalho já não lhe permitir frequentar a Cinemateca, onde viu "ciclos de Murnau, Bresson, Godard, Truffaut ou Tarkovsky", e lamenta o fim de programas como o "Cinco Noites, Cinco Filmes", da RTP-2, onde, recorda com nostalgia, "passaram durante uma semana inteira filmes sobre o Godzilla, japoneses e americanos". Hoje passa a vida a consultar a Internet e a folhear catálogos para descobrir mais uma pérola para a sua "colecção privada de filmes de terror e filmes 'exploitation'", uma busca que às vezes o obriga, quando não existe edição em DVD, a recorrer à pirataria na internet. Se ouvir João Félix é viajar no passado, ouvir David Pereira é entrever um futuro em que "A Palavra", de Dreyer, ou "O Mundo a Seus Pés", de Orson Welles, poderão ter a mesma cotação no mercado cinéfilo de um filme de serial-killers no estilo "giallo" de Dario Argento, ou de um "Cannibal Killers", de Paul Naschy - nome artístico do espanhol Jacinto Molina -, protagonizado por um bandido free-lancer que é contratado pelos Yakuza e que se refugia na casa de uma família de canibais que cria porcos. Poeta e co-responsável por uma revista literária, David Pereira reconhece não ser, enquanto leitor, o equivalente do que é como cinéfilo, quer na facilidade com que, no cinema, assume o seu ecletismo de gosto, quer no próprio consumo de objectos que o cânone oficial menoriza. "O equivalente a um Spielberg ou um Coppola na literatura", diz, "seria o best-seller com alguma qualidade, que eu, realmente, não consumo". Para lá da diversidade óbvia dos percursos, uma distinção relevante entre velhos e novos cinéfilos é que os primeiros desdenham as obras de culto dos segundos, mas o inverso não é necessariamente verdade. Félix admira a subtileza de Lubitsch, ou "aqueles movimentos de câmara extraordinários de Max Ophüls, que parece que se colam às personagens". E reconhece ser raro ver um filme recente que lhe encha as medidas. "O que hoje sinto é que muitos filmes presumem que o espectador é burro, que tudo tem de ser dito e mostrado, quando o grande segredo do cinema está nisso a que se convencionou chamar elipse." Foi Vasco Menezes, ex-crítico de cinema do PÚBLICO, que gere uma loja de DVD's alternativos - a Cinecittà -, quem nos sugeriu que valeria a pena falar com David Teles Pereira. Era alguém que, explicou, tanto lhe comprava um Paul Naschy como um... Max Ophüls. A experiência na loja permitiu-lhe conhecer bem os circuitos da nova cinefilia. E confirma que os seus jovens clientes têm um gosto eclético: "Tanto levam Nouvelle Vague como filmes série B, e se compram filmes em DVD e pirateiam na Internet, muitos deles também frequentam a Cinemateca." Nos limites do que a sobrevivência comercial permite, Menezes não resiste a impimir o seu gosto pessoal no estabelecimento. Educado "na televisão e nos clubes de vídeo, onde tanto se encontrava um James Bond como um Fellini", dá-lhe gozo promover misturas inesperadas, mas não arbitrárias. "Gosto de juntar o Russ Meyer ao Eisenstein, o Godard ao cinema de Hong Kong, o filme de capa-e-espada ao de samurais." Acha que não tem de haver "um gosto oficial" e que, ao lado da história canónica do cinema, corre "uma história paralela, dos filmes de série B, que também tem o seu próprio 'star system', as suas figuras míticas". Dá um exemplo. "Se me falam de actores cómicos e referem o Buster Keaton, apetece-me logo juntar ao grupo o Bruce Campbell, dos filmes "Evil Dead". Vê a história do cinema como um contínuo cheio de regressos, citações e homenagens, e é isso que o fascina. "Perceber que o primeiro filme do Wes Craven é uma versão 'rape and revenge' [violação e vingança] de 'A Fonte da Virgem'", de Bergman". "O que descobri ao longo dos anos é que está tudo interligado", diz. "Um realizador como o Walter Hill fez o "The Driver" [1978], que é uma homenagem ao [Jean-Pierre] Melville e ao cinema de gangsters americano de série B, que por sua vez inspiraram a Nouvelle Vague francesa, e podíamos acrescentar o John Woo, que pega outra vez no Melville, ainda em Hong Kong, e depois os americanos pegam no Woo e até o levam para os Estados Unidos..." Admirador de cineastas da geração dos "movie brats", e em particular de John Landis e Joe Dante, "conhecedores enciclopédicos" de cinema, mas também do clássico Fritz Lang ou dos mestres italianos do terror e do macabro Dario Argento e Mario Bava, Vasco Menezes escolheria, enquanto filme determinante para o seu "crescimento como cinéfilo", "Cães Danados", de Quentin Tarantino. "Fiquei siderado." O cinéfilo-programador Tarantino, diz Mexia, "é o exemplo máximo dessa cultura popular regurgitada". No seu caso, o "click" que permitiu o salto para a cinefilia veio com "as primeiras coisas do Godard, como "À Bout de Souffle", quando percebeu que "há cinemas muito diferentes". Ainda hoje pensa que essa consciência é uma das marcas que define o cinéfilo. "Os que não são cinéfilos têm pouca noção disto; vêem um filme de que não gostam e dizem: 'Isto não é cinema'." O subdirector da Cinemateca acha que "tudo mudou quando a cinefilia se libertou da sala de cinema", porque "as pessoas têm agora acesso aos filmes através do DVD e da Internet e cada um pode ser o seu próprio programador". Embora tenda a concordar com Félix na convicção de que "a experiência da sala é mais ou menos insubstituível", acha que "é melhor ver filmes em DVD do que não os ver". Não o convencem os pessimistas que acham que as possibilidades tecnológicas hoje disponíveis na produção de filmes, e as mudanças nos hábitos dos consumidores, ditarão, em breve, a morte do cinema. "Mais depressa morrem os jornais nos quais se escreve sobre a morte do cinema." Acredita, sim, que o digital será uma transformação radical, mas lembra que esta é uma arte que já viveu a passagem do mudo ao sonoro, e que "hoje não temos bem a noção do que isto implicou para toda a indústria do cinema". Tal como o cinema, a cinefilia também muda. Na introdução que escreveu para o dicionário de Kamp e Levi, Mexia diz mesmo que "cinéfilo" é uma palavra que "caiu em desuso" e que "sugere um mundo outrora novo e admirável mas que entretanto se tornou museológico". Naqueles que hoje poderiam corresponder ao conceito, observa "uma grande tribalização de gosto, pessoas que vêem cinema asiático e só vêem aquilo, gente que muito erudita e que sabe tudo sobre o seu cantinho, mas que se calhar nunca viu um Antonioni". No passado recente, acrescenta, "um cinéfilo tinha de ter visto os russos, o expressionismo alemão, o cinema clássico norte-americano, o novo cinema europeu - hoje, isto que era o be-á-bá já não integra o currículo obrigatório." A cinefilia passou também a ser uma actividade de caçador solitário. David Pereira devora as suas presas em casa, sozinho, sem ninguém ao lado com quem discutir os filmes, embora mantenha algum diálogo virtual, através da Internet, com outros jovens cinéfilos de gostos afins. Nada de parecido com o que conta João Félix, que, aos 15 ou 16 anos, ia ver os filmes de Bergman com amigos, e que depois passava horas a discuti-los, dando voltas intermináveis a um jardim público. O regresso às salas Sensivelmente da mesma idade que David Pereira, Guilherme Blanc, promotor de projectos de cineclubismo universitário e um dos subscritores do abaixo-assinado que, recentemente, veio exigir a criação de um pólo da Cinemateca no Porto, coloca várias reservas a este retrato do novo cinéfilo como um comprador compulsivo de DVD, de gostos ecléticos, que trocou a sala pelo sofá. "Os DVD são objectos de luxo para uma pessoas que ainda está a estudar, e não posso adquirir os suficientes para alimentar a minha cinefilia", diz. E, "por razões tecnológicas", também não pirateia na Internet, embora reconheça, por regra, a sua geração "adquire cultura cinematográfica através do acesso a formatos ilegais". Do que gosta mesmo é de ver cinema em salas, e está convencido de que assistiremos ao regresso das salas independentes. Esse é, aliás, o tema da tese de mestrado que está a fazer em Londres. "Acho que vai haver um retorno à exibição clássica e que a tendência não é para a expansão dos multiplex, mas também não será um regresso ao modelo falhado da sala independente." Acredita que a solução passa não apenas por assegurar o conforto que as velhas salas não tinham, e por recuperar espaços de socialização que tinham, mas também por levar cineastas e actores às salas e por promover apresentações e debates. Não tendo meios para comprar os DVD que quer, e vivendo no Porto, onde "são escassas as oportunidades para se ver cinema realizado em décadas passadas, mas também cinema independente contemporâneo", descreve a sua cinefilia como "um amor platónico, impossível", mas acha que essa "dificuldade de consumação contribui para o exacerbar". Blanc gosta da Nouvelle Vague, do expressionismo alemão e do neo-realismo italiano, mas não se entusiasma menos com filmes recentes, como "O Segredo de Um Couscous", de Kechiche, ou "A Turma", de Laurence Cantet. E acrescenta ainda às suas afinidades electivas realizadores como o norte-americano Wes Anderson ou o britânico Steve McQueen, autor de "Hunger", sobre a greve de fome de Bobby Sands. Também aprecia a primeira fase do holandês Paul Verhoeven, talvez a predilecção mais eclética num jovem cinéfilo que acha que as obras de Tarantino ou David Fincher "não justificam a aclamação com que têm sido recebidas". Sabe que "passa por maluco", porque "é a mesma coisa que, nos anos 60, alguém dizer que não gosta de Godard", mas defende que Tarantino é o exemplo de "um cinema que se mascara de arte alternativa, mas que tem uma gigantesca capacidade comercial, baseada numa percepção muito aguda dos gostos das novas gerações". Guilherme Blanc reconhece que os DVD, a Internet, o acesso rápido a obras e a textos críticos, "tornam tudo mais simples a quem já é cinéfilo". Mas lembra que hoje não se vêem cartazes de cinema na rua e que houve "um grande retrocesso na exibição", o que o leva a colocar uma outra pergunta: "Não será hoje, afinal, mais difícil dar esse salto que transforma alguém num verdadeiro cinéfilo?" Luís Miguel Queirós (PÚBLICO) | ||
| 15/5/2009 Somos todos cinéfilos? | ||
| "Cada um o Seu Cinema" e "Dicionário de Cinema para Snobs" desenterram uma palavra rodeada de equívocos. E deixam pistas para que se reflicta sobre o estado actual da cinefilia. Um filme estreado esta semana nas salas portuguesas, "Cada um o seu Cinema", e um livro recentemente editado, "Dicionário de Cinema para Snobs", trazem à baila uma palavra: "cinefilia". Esta palavra, sublinhada a vermelho pelo corrector do processador de texto, mas utilizada há tanto tempo e por tanta gente que já é tudo menos um neologismo, ainda quer dizer alguma coisa? Digitamos "cinefilia" no Google. O mais perto que ficamos de uma entrada dalgum dicionário "online" é a Wikipédia em língua portuguesa: "quem se interessa pelo cinema é considerado cinéfilo". Vago: basta dar uma volta pela expressão máxima da democracia opinativa, a blogosfera, para se perceber que toda a gente se "interessa" pelo cinema. Somos todos cinéfilos? Convém desvalorizar a etimologia. Decomposta, a palavra "cinefilia" quer de facto designar um "amor pelo cinema". Como é feio julgar a qualidade do amor dos outros, tanto o indivíduo que passa os dias enfiado na Cinemateca como o que sai de casa uma vez por ano para ver o filme que ganhou os óscares têm igual legitimidade para se reclamarem "cinéfilos". Mas, e é aqui que convém perder de vista a etimologia, historicamente a palavra "cinefilia" - inventada, como tantas coisas relacionadas com a análise a percepção do cinema, pelos franceses - quis designar mais do que o seu etimológico amor. Antes, uma relação especial, uma condição quase ontológica, uma "cultura", como diz a entrada para "cinéphilie" na versão francesa da Wikipédia. Aliás, reproduzimos daí um parágrafo, absolutamente justo: "a cinefilia foi uma cultura porque possuía os seus próprios códigos distintivos e o seu próprio discurso. Ser cinéfilo era ser, ao mesmo tempo, espectador e crítico. Neste sentido a cinefilia foi uma prática de vida, a sós ou em grupo, entendida como forma de reflectir a arte e o mundo". Repare-se no pretérito: "a cinefilia foi". A cinefilia, neste sentido histórico, a cinefilia "clássica", foi um fenómeno localizado no espaço e no tempo - Paris, anos 50 e 60, a Cinemateca Francesa, a "nouvelle vague", os "Cahiers" e a "Positif", e portanto, irrepetível nos mesmos termos. O que provocou foi uma imensa onde de choque, que espevitou o "amor absoluto" pelo cinema em muita gente, e previu toda a instintiva capacidade de "replicação" dessa cultura e dessa "prática de vida" que viria a ser demonstrada por jovens de todas as gerações futuras. Que, descobrindo textos de Godard, de Daney, de Skorecki, escritos muitos anos antes de eles próprios terem nascido, sentem-se imediatamente "reconhecidos" por eles, tanto quanto reconhecem exactamente aquilo de eles estão a falar. Alguns cantos da blogosfera também provam que isto se repete ainda hoje. O "Dicionário de Cinema para Snobs", usando a artimanha do "snobismo" para distinguir uns cinéfilos dos outros neste tempo em que todos são cinéfilos, propõe uma espécie de guia introdutório à cinefilia enquanto "cultura", que com alguns postulados e referências "modernas" não deixa de reflectir e integrar elementos oriundos da cinefilia "clássica". É um livro que, embora lacunarmente, e com diversos problemas (vontade de ter graça a todo o custo e uma ligeireza enervante em muitas entradas), tenta propor um esboço de reflexão sobre a possibilidade e os modos da cinefilia contemporânea, e nesse sentido talvez não seja um livro completamente inútil, por exemplo, para todos aqueles que se escandalizam quando o crítico não gosta de "Slumdog Millionaire" e se põem a falar das "massas". Por outro lado, faz o elogio da curiosidade, a curiosidade que falta às "massas", a vontade de ver, de descobrir o que está por baixo das pedras, e que é absolutamente constitutivo da cinefilia - mesmo, ou sobretudo, quando é confundido com "pseudo-intelectualice" e "elitismo". Ou "snobismo". Já "Cada um o seu Cinema" evoca um elemento fundamental da cinefilia clássica: a sala de cinema. Nalguns casos - os melhores, como o episódio de Cronenberg - a conjugação da sala e da cinefilia é conduzida a um extremo "apocalíptico", mas com uma frieza - ainda que magoada - que evacua toda a xaroposa nostalgia que outros casos não evitam (Lelouch, Iñarritu...). Neste sentido, e no seu melhor como no seu pior, "Cada um o Seu Cinema" esboça as duas vertentes: fazer o seu requiem como maneira de lhe prestar justiça e, de algum modo, conservar a sua validade, ou prolongar os seus aspectos mais folclóricos, transformando-a em nostalgia barata. Luís Miguel Oliveira (PÚBLICO) | ||

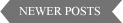



0 COMENTÁRIO(S):
Post a Comment