um filme de MIGUEL GONÇALVES MENDES sobre MÁRIO CESARINY
MGM ... mas o que é que fica, o que é que realmente fica de nós?
Mário Cesariny Bom, de nós ficam os filhos se fazes filhos, ficam livros e pinturas se escreves ou pintas, ficam esculturas, etc… Não é grande consolação… para mim não é! Porque se houvesse a eternidade era uma coisa, não é? Mas não há… Não interessa quantos milhares de anos, ou milhões de anos, o planeta terra vai levar para explodir, não é? Portanto acaba tudo por desaparecer, pronto, fsssst! É muito misterioso isto tudo, não é?
 O Independente – Lê jornais?
O Independente – Lê jornais?
Porque é que fica desanimado? . São só desgraças… Ardeu o poço do petróleo, mataram três à esquina da brasserie, sida aumenta, vulcão explode. Isto são as notícias em Portugal. Aliás… se os jornais dessem notícias felizes, vinha tudo para a rua, era uma revolução. Assim, as pessoas ficam em casa cheias de medo.
Compra jornais para o fim-de-semana? . O «Expresso» e o «Semanário». Mas é outro horror, por causa do peso – são quase trinta toneladas de papel, mas lêem-se num instante.
Gosta da televisão? . É raro. A televisão ainda dá piores notícias. Tenho vontade de escrever cartas, partir o aparelho.
A televisão é má em si própria? . É um abuso. Havendo alguém em casa é impossível não a abrir, depois é impossível não a olhar. A televisão é um narcótico: boa para os governos e para a polícia. .
Não tem utilidade? . Só para os casais desavindos e para as discussões de família. Põem-se todos a ver e daí a dez minutos acabou.
Porque é que os portugueses gostam de ver televisão espanhola? . Porque sempre se percebe menos.
É sócio do Grémio Literário? . Fui proposto. Morreu não sei quem e o Sales Lane, com boa vontade, propôs-me. Tentei averiguar se podia lá ir comer à borla. Eu só queria aproveitar uma vez por mês… Mas não – é só para pôr um fato giro e ir como os outros. Portanto, não me interessou. .
Tem ligações à Associação Portuguesa de Escritores? . Acho que sempre paguei quotas até que percebi que ninguém paga – e deixei de pagar. Aquilo não serve para nada… nem dado.
Dá prémios…
Porque é que os escritores nacionais têm pouco conhecimento dos estrangeiros? . Tiraram-lhes a Galiza. A mim não me faz falta; mas a eles, a isto aqui… Sempre era mais gente para ajudar.
A Biblioteca Nacional serviu-lhe de alguma coisa? . Gosto da gente de lá. E fiz lá um estudo obre a literatura de cordel.
Usa dicionário? . Consulto muitas vezes. Primeiro, porque estou um bocado desmemoriado. Segundo, porque já apanhei três reformas ortográficas. Põe acento, tira acento; e há o caso do c, que nunca se sabe onde fica, se no bolso se à cabeça.
A sério… . Há por aí um espanhol que jura que o Sol anda à volta da Terra. É muito interessante.
Mários Cláudios, Saramagos, dizem-lhe alguma coisa? . Ainda não li. Mas pergunto a pessoas de confiança. E tenho duas informações curiosas. Chega-se à oitava página do Saramago e ainda não se viu um ponto final. É a primeira. A segunda é que diz mal do D. João V. Mas a família real não era nada daquela besteira.
Agustina é um caso. . A gente abre uma página do livro dela e percebe que é boa em qualquer parte do mundo. Complica, mas isso não é defeito.
Confia nos críticos literários? . Não me costumam dizer se um livro é uma novela histórica ou uma ficção científica. Li na revista mexicana «Vuelta» que o Memorial do Convento é uma novela histórica. Aqui não dizem o que é nem se chega a saber se gostaram ou não.
Foi sempre assim? . O Gaspar Simões faz muita falta. Mesmo quando dizia asneiras a gente sabia onde ele estava e ele sabia quem era. Depois de ele se ter ido embora não há outra referência. O Gaspar Simões ensinou muitos escritores como se escreve. Ele dizia que isto estava bem; e aquilo, mal. O Alves Redol, no livro seguinte, emendava.
E o Eduardo Prado Coelho? . Aqueles artigos de três páginas que ele publicava no «Diário de Lisboa», sobre o neo-realismo, a semiótica e a metalinguagem! Depois deixou-se disso… e eu sinto falta.
Gosta das cidades? . Porto e Lisboa, sim. Coimbra não me convence, não me apetece descer do comboio.
Tem parecer sobre as amoreiras? . Não acho mal. É uma extravagância. O monumento aos Descobrimentos em Belém é muito pior. Devia ser rapado dali.
Prefere a Lisboa Pombalina? . A Baixa desenhada pelo Marquês é fantástica. Tem as proporções certas – não humilha nem envergonha. A Baixa podia ser Nova Iorque no século XVIII.
Porque é que toda a gente passa férias no Algarve? . Não vale a pena protestar. Acho que são todos ingleses, já. O mais engraçado é que o Algarve é o único sítio do mundo onde há ingleses pobres. Electricistas e gente assim…
O Cesariny fuma a rodos. O Estado quer proibir o tabaco… . Cada época tem os seus puritanismos. Agora é o tabaco. Há uns dias ia de táxi e ouvi uma descompostura medonha. O condutor era um rapaz novo e começou a praguejar – porque os senhores são assassinos, prejudicam o próximo, portam-se como suicidas. Tive de o mandar parar e saí. Paguei só para não ter de o ouvir mais.
Mas o cigarro vale a pena? . O fumo dos cigarros é o luxo dos pobres. Quem não tem dinheiro para ir ao cinema acende um cigarrito. Alivia.
E o 25 de Abril? . Foi uma revolução ortodoxamente neo-realista, com Óscar Lopes em presidente de Portugal.
Colonialismo, ainda há? . Começou outro. Quando o Samora Machel cá veio foi ver a Sé Velha a Coimbra. Ficou encantado – isto é que é! Estava deslumbrado. Percebi, então, que os chefes africanos não querem ser chefes africanos. Sonham com o Reagan, o De Gaulle, o Salazar. Imaginem o Hegel a 60 graus à sombra! Falam de Marx. Isto é, dispensam o que é verdadeiramente negro. A verdadeira colonização começa agora.
Quem se dá mais ao respeito: um rei ou um presidente? . Um, outro ou nenhum. Mas esta história do Gorbachev faz-me pensar nisso. Dizem que é bem intencionado. Mas vai falhar. E se falhar é porque não tem a coragem de ir ao tesouro imperial dos czares. Ia lá, agarrava na coroa e punha-a na cabeça. Mal o fizesse, aquelas repúblicas maravilhavam-se. É como os ingleses. A rainha não serve para nada, mas há um sagrado que conta. Só não sou monárquico por não haver eleições tibetanas, em que os velhos vão aos tugúrios e escolhem uma criancinha. Às vezes, claro, também se enganam.
PORTUGAL E A EUROPA
Traz dinheiro. . As massinhas que vêm, acho que já foram todas gloriosamente gastas a comprar automóveis e quintarolas. Mas a Europa não se deve zangar muito com isso. Ao menos, nós nunca faremos a bomba atómica.
Portugal é europeu? . As instituições são. O povo não. Mas eu gosto do atraso. Digo mal da Europa mas, apesar de tudo, é um quadrado onde nos deixam morrer à vontade. Viver é que não.
O português não pode ser internacional? . Eu já andei à procura do esquimó. Essa ideia da nação, no sentido mais antigo, está além-fronteiras. Quer dizer, o português pode ser alheio à coisa nacional e à coisa internacional. Não há ninguém tão português como o Teixeira de Pascoaes. Os pés e os sapatos dele são portugueses. Mas o resto dele é universal. Não tem que ver com Lisboa, Madrid ou Londres – o resto dele á com as estrelas.
Os portugueses mudaram. . Já não há povo que queira ser povo. Era povo, e queria sê-lo, a rapariga que aparecia de lenço, o rapaz de bigode e da patilha. O povo agora tem pena de ser povo. Quer vestir ganga ou calcinha de flanela. De fora só ficam os ciganos. Continuam a ser o que já eram. E os analfabetos. São uma reserva: De gente ainda não doutrinada. Mas também devem estar a dar cabo deles. Entrevista de 2002 publicada no Mil Folhas, o suplemento cultural do Diário de Notícias. Conduzida por Óscar Faria.
Entrevista de 2002 publicada no Mil Folhas, o suplemento cultural do Diário de Notícias. Conduzida por Óscar Faria.


MGM Então para que é que isto serve?
Mário Cesariny Não sei, serve para foder que é muito agradável e dá muito gozo. Serve para amar....e serve para morrer. Pronto! "A criança é a máscara do velho", mas a verdade é que a criança, enquanto criança, é mesmo criança, não é?
Mário Cesariny Bom, de nós ficam os filhos se fazes filhos, ficam livros e pinturas se escreves ou pintas, ficam esculturas, etc… Não é grande consolação… para mim não é! Porque se houvesse a eternidade era uma coisa, não é? Mas não há… Não interessa quantos milhares de anos, ou milhões de anos, o planeta terra vai levar para explodir, não é? Portanto acaba tudo por desaparecer, pronto, fsssst! É muito misterioso isto tudo, não é?
 O Independente – Lê jornais?
O Independente – Lê jornais?Porque é que fica desanimado? . São só desgraças… Ardeu o poço do petróleo, mataram três à esquina da brasserie, sida aumenta, vulcão explode. Isto são as notícias em Portugal. Aliás… se os jornais dessem notícias felizes, vinha tudo para a rua, era uma revolução. Assim, as pessoas ficam em casa cheias de medo.
Compra jornais para o fim-de-semana? . O «Expresso» e o «Semanário». Mas é outro horror, por causa do peso – são quase trinta toneladas de papel, mas lêem-se num instante.
Gosta da televisão? . É raro. A televisão ainda dá piores notícias. Tenho vontade de escrever cartas, partir o aparelho.
A televisão é má em si própria? . É um abuso. Havendo alguém em casa é impossível não a abrir, depois é impossível não a olhar. A televisão é um narcótico: boa para os governos e para a polícia. .
Não tem utilidade? . Só para os casais desavindos e para as discussões de família. Põem-se todos a ver e daí a dez minutos acabou.
Porque é que os portugueses gostam de ver televisão espanhola? . Porque sempre se percebe menos.
É sócio do Grémio Literário? . Fui proposto. Morreu não sei quem e o Sales Lane, com boa vontade, propôs-me. Tentei averiguar se podia lá ir comer à borla. Eu só queria aproveitar uma vez por mês… Mas não – é só para pôr um fato giro e ir como os outros. Portanto, não me interessou. .
Tem ligações à Associação Portuguesa de Escritores? . Acho que sempre paguei quotas até que percebi que ninguém paga – e deixei de pagar. Aquilo não serve para nada… nem dado.
Dá prémios…
Porque é que os escritores nacionais têm pouco conhecimento dos estrangeiros? . Tiraram-lhes a Galiza. A mim não me faz falta; mas a eles, a isto aqui… Sempre era mais gente para ajudar.
A Biblioteca Nacional serviu-lhe de alguma coisa? . Gosto da gente de lá. E fiz lá um estudo obre a literatura de cordel.
Usa dicionário? . Consulto muitas vezes. Primeiro, porque estou um bocado desmemoriado. Segundo, porque já apanhei três reformas ortográficas. Põe acento, tira acento; e há o caso do c, que nunca se sabe onde fica, se no bolso se à cabeça.
A sério… . Há por aí um espanhol que jura que o Sol anda à volta da Terra. É muito interessante.
Mários Cláudios, Saramagos, dizem-lhe alguma coisa? . Ainda não li. Mas pergunto a pessoas de confiança. E tenho duas informações curiosas. Chega-se à oitava página do Saramago e ainda não se viu um ponto final. É a primeira. A segunda é que diz mal do D. João V. Mas a família real não era nada daquela besteira.
Agustina é um caso. . A gente abre uma página do livro dela e percebe que é boa em qualquer parte do mundo. Complica, mas isso não é defeito.
Confia nos críticos literários? . Não me costumam dizer se um livro é uma novela histórica ou uma ficção científica. Li na revista mexicana «Vuelta» que o Memorial do Convento é uma novela histórica. Aqui não dizem o que é nem se chega a saber se gostaram ou não.
Foi sempre assim? . O Gaspar Simões faz muita falta. Mesmo quando dizia asneiras a gente sabia onde ele estava e ele sabia quem era. Depois de ele se ter ido embora não há outra referência. O Gaspar Simões ensinou muitos escritores como se escreve. Ele dizia que isto estava bem; e aquilo, mal. O Alves Redol, no livro seguinte, emendava.
E o Eduardo Prado Coelho? . Aqueles artigos de três páginas que ele publicava no «Diário de Lisboa», sobre o neo-realismo, a semiótica e a metalinguagem! Depois deixou-se disso… e eu sinto falta.
Gosta das cidades? . Porto e Lisboa, sim. Coimbra não me convence, não me apetece descer do comboio.
Tem parecer sobre as amoreiras? . Não acho mal. É uma extravagância. O monumento aos Descobrimentos em Belém é muito pior. Devia ser rapado dali.
Prefere a Lisboa Pombalina? . A Baixa desenhada pelo Marquês é fantástica. Tem as proporções certas – não humilha nem envergonha. A Baixa podia ser Nova Iorque no século XVIII.
Porque é que toda a gente passa férias no Algarve? . Não vale a pena protestar. Acho que são todos ingleses, já. O mais engraçado é que o Algarve é o único sítio do mundo onde há ingleses pobres. Electricistas e gente assim…
O Cesariny fuma a rodos. O Estado quer proibir o tabaco… . Cada época tem os seus puritanismos. Agora é o tabaco. Há uns dias ia de táxi e ouvi uma descompostura medonha. O condutor era um rapaz novo e começou a praguejar – porque os senhores são assassinos, prejudicam o próximo, portam-se como suicidas. Tive de o mandar parar e saí. Paguei só para não ter de o ouvir mais.
Mas o cigarro vale a pena? . O fumo dos cigarros é o luxo dos pobres. Quem não tem dinheiro para ir ao cinema acende um cigarrito. Alivia.
E o 25 de Abril? . Foi uma revolução ortodoxamente neo-realista, com Óscar Lopes em presidente de Portugal.
Colonialismo, ainda há? . Começou outro. Quando o Samora Machel cá veio foi ver a Sé Velha a Coimbra. Ficou encantado – isto é que é! Estava deslumbrado. Percebi, então, que os chefes africanos não querem ser chefes africanos. Sonham com o Reagan, o De Gaulle, o Salazar. Imaginem o Hegel a 60 graus à sombra! Falam de Marx. Isto é, dispensam o que é verdadeiramente negro. A verdadeira colonização começa agora.
Quem se dá mais ao respeito: um rei ou um presidente? . Um, outro ou nenhum. Mas esta história do Gorbachev faz-me pensar nisso. Dizem que é bem intencionado. Mas vai falhar. E se falhar é porque não tem a coragem de ir ao tesouro imperial dos czares. Ia lá, agarrava na coroa e punha-a na cabeça. Mal o fizesse, aquelas repúblicas maravilhavam-se. É como os ingleses. A rainha não serve para nada, mas há um sagrado que conta. Só não sou monárquico por não haver eleições tibetanas, em que os velhos vão aos tugúrios e escolhem uma criancinha. Às vezes, claro, também se enganam.
PORTUGAL E A EUROPA
Traz dinheiro. . As massinhas que vêm, acho que já foram todas gloriosamente gastas a comprar automóveis e quintarolas. Mas a Europa não se deve zangar muito com isso. Ao menos, nós nunca faremos a bomba atómica.
Portugal é europeu? . As instituições são. O povo não. Mas eu gosto do atraso. Digo mal da Europa mas, apesar de tudo, é um quadrado onde nos deixam morrer à vontade. Viver é que não.
O português não pode ser internacional? . Eu já andei à procura do esquimó. Essa ideia da nação, no sentido mais antigo, está além-fronteiras. Quer dizer, o português pode ser alheio à coisa nacional e à coisa internacional. Não há ninguém tão português como o Teixeira de Pascoaes. Os pés e os sapatos dele são portugueses. Mas o resto dele é universal. Não tem que ver com Lisboa, Madrid ou Londres – o resto dele á com as estrelas.
Os portugueses mudaram. . Já não há povo que queira ser povo. Era povo, e queria sê-lo, a rapariga que aparecia de lenço, o rapaz de bigode e da patilha. O povo agora tem pena de ser povo. Quer vestir ganga ou calcinha de flanela. De fora só ficam os ciganos. Continuam a ser o que já eram. E os analfabetos. São uma reserva: De gente ainda não doutrinada. Mas também devem estar a dar cabo deles.
 Entrevista de 2002 publicada no Mil Folhas, o suplemento cultural do Diário de Notícias. Conduzida por Óscar Faria.
Entrevista de 2002 publicada no Mil Folhas, o suplemento cultural do Diário de Notícias. Conduzida por Óscar Faria.

MGM Então para que é que isto serve?
Mário Cesariny Não sei, serve para foder que é muito agradável e dá muito gozo. Serve para amar....e serve para morrer. Pronto! "A criança é a máscara do velho", mas a verdade é que a criança, enquanto criança, é mesmo criança, não é?
..
1
2
3
_______________________________
__________________________________________________
Entrevista de Maria Bochicchio, 2006
Em Maio de 2006, a convite dos professores Piero Ceccucci e Arnaldo Saraiva, participei em Milão num congresso sobre Eugénio de Andrade, onde tive a oportunidade de encontrar o professor Perfecto Cuadrado. Em conversa com ele sobre o surrealismo português, em que é especialista, dei-lhe conta da minha muita admiração por Mário Cesariny, que por sinal fora grande amigo de Eugénio e que eu só conhecia pelos seus poemas. Para grande surpresa minha, Perfecto Cuadrado passava-me daí a pouco o seu telemóvel para as minhas mãos, dizendo-me que do outro lado da linha estava o autor de Pena Capital. Já não sei bem o que dissemos, para lá da divertida troca informal de cumprimentos. Mas sei que logo ali marcámos um encontro em Lisboa. Esse encontro aconteceu em finais de Junho, num dia invulgarmente quente. Estava longe de saber que esta seria (creio) a última entrevista literária concedida por Cesariny. Mas «a maravilha do acaso», de que o poeta fala, às vezes também ocorre nas vidas quotidianas. Cesariny recebeu-me na sua casa: um sorriso vivo, um olhar aberto e límpido, e aquele seu cigarro, mais cinza do que cigarro, como prolongamento natural dos seus dedos. Uma ironia gentil que qualquer transposição para papel acaba sempre por atraiçoar. E as primeiras palavras, que me receberam à chegada: «Que posso fazer por si? Disponha à vontade.»

Foi a 20 de Maio de 88 que, logo no primeiro número, O Independente publicou esta entrevista a Mário Cesariny feita por Miguel Esteves Cardoso e Paulo Portas:
Mário Cesariny é um génio mas não tem culpa. Os génios fazem falta em Portugal. Cansado por causa da inauguração da sua exposição, na véspera, informa-nos que tomou um comprimido para espevitar. Deita-se ao comprido arranjando as almofadas. Está mortiço. Ri-se: «Se calhar tomei a pastilha errada». Levanta-se. Liga um Grundig gigantesco dos anos 50. Sai ópera. Deita-se. Depois levanta-se outra vez. Puxa pelo fio eléctrico e com um safanão desliga a telefonia. Passaram dois minutos. Volta a deitar-se. Olha à volta. Anima-se: «Se calhar, já posso tomar um Optalidon!» Levanta-se e vai ao tupperware onde tem os remédios. Com um sorriso de puto-da-cola mete o comprimido na boca e diz: «Agora vamos ver como é que a diligência salta!» A diligência salta.
.
.
Mário Cesariny – O «Diário de Notícias» todas as manhãs. Eu acho que até é um bom jornal, mas quando a gente acaba de ler é um desânimo muito grande. Também não sei o que é que se devia ler…
O David Mourão-Ferreira recebeu quatro no mesmo ano. Ora, quatro prémios pela mesma coisa dá uma imagem de país de imbecis e doidos varridos. Isto contado em França dava cancelamento de passaporte.
Conhece os novos escritores? . O Dante impressiona-me muito. A história do novo para mim não funciona. O actual é um bocado perigoso.
Vai ao teatro em Portugal? . Nunca. Sempre foi mau e agora exageram.
Sente-se bem na Europa? . A CEE quer dizer: tu plantas batatas, ele planta tomates, os morangos vêm de acolá, as calças de ganga fazem-se ali. Depois, todos consumimos. Isso é o lado melhor.
Cesariny (n. 9/8/1923) gosta de posar. E de fumar. Muito. Cesariny tem o dom das palavras. Às vezes basta-lhe uma linha para construir um mundo: "Ama como a estrada começa". Outras, esse encantamento suscita contínuos estremecimentos: "longe dos jogos civilizados/ livres da hora da mãe e da filha/ jogamos fumo para uma bilha/ jogamos o pocker o king a vrilha/ jogamos tudo como danados". O maravilhoso surreal, ainda vivo, ainda intensamente livre atravessa uma conversa acontecida na inauguração da polémica exposição "Do Surrelismo em Portugal", que esteve patente na Fundação Cupertino de Miranda, em Vila Nova de Famalicão. Fala-se aqui de ditadura, de revolução e da dificuldade em cumprir o programa surrealista: "liberdade, amor e poesia". Também se recordam António Maria Lisboa e Pedro Oom, Vieira da Silva e Pascoaes: "Não tenho nada contra o Pessoa, mas para mim o Pascoaes é o velho da montanha, é o mágico". Cesariny é um sedutor. Cesariny é um danado. Mário Cesariny – O «Diário de Notícias» todas as manhãs. Eu acho que até é um bom jornal, mas quando a gente acaba de ler é um desânimo muito grande. Também não sei o que é que se devia ler…
O David Mourão-Ferreira recebeu quatro no mesmo ano. Ora, quatro prémios pela mesma coisa dá uma imagem de país de imbecis e doidos varridos. Isto contado em França dava cancelamento de passaporte.
Conhece os novos escritores? . O Dante impressiona-me muito. A história do novo para mim não funciona. O actual é um bocado perigoso.
Vai ao teatro em Portugal? . Nunca. Sempre foi mau e agora exageram.
Sente-se bem na Europa? . A CEE quer dizer: tu plantas batatas, ele planta tomates, os morangos vêm de acolá, as calças de ganga fazem-se ali. Depois, todos consumimos. Isso é o lado melhor.
MIL FOLHAS - A revolução é um dos objectivos essenciais do movimento surrealista. Como é que viveu o 25 de Abril de 1974?
MÁRIO CESARINY - Nós estávamos muito mal vistos pelo Salazar e pelos marxistas; tínhamos dois inimigos. Há uma carta do António Dacosta, que está em minha casa - não sei onde, espero que apareça - em que me conta a ida para Paris, em 1947, onde frequenta as reuniões do grupo surrealista com o André Breton e o Benjamin Péret. Eu sei que dizer isto pode parecer esquisito, mas acho que devo dizer: ele começa a explicar ao Péret o que se passa em Portugal - "Há o anti-fascismo, claro, mas ao mesmo tempo não podemos acusar ou denunciar os estalinistas por causa do fascismo imperante e porque o Salazar prende os comunistas todos". Péret, que sabia bem o que se passava em todo o mundo, disse assim: "Ai o Salazar prende os comunistas, pois faz o Salazar muito bem". Esta anedota é complicada, o que se subentende disto tudo, mas agora subentendam o que quiserem.
P. - Mas Breton também se aproximou do comunismo soviético...
R. - Em duas palavras lhe digo. Tive uma perseguição muito grande e muito chata do regime, porque descobriram uma maneira mais simpática e mais atroz de me chatear: fui dado como vagabundo na Polícia Judiciária de Lisboa, tinha lá o cartão... dado não, suspeito, suspeito de vagabundagem, que era também um termo que se aplicava a pessoas assim um bocado esquisitas. E, em nome dessa suspeita de vagabundagem, tive uma perseguição que só acabou no 25 de Abril, porque tudo aquilo era ilegal. Não sou um mártir nem um herói da luta anti-fascista, não sou, mas fui muito chateado, porque a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer ano, podia receber uma convocação da polícia: o senhor venha cá - uma coisa horrorosa. Isso só acabou com o 25 de Abril, porque tudo aquilo era ilegal.
P. - Chatearam-no muitas vezes?
R. - Não é chatear muito; é que eles tinham o poder de chatear sempre que quisessem. Até podiam deixar passar vinte anos sem chatear, mas ao fim de vinte anos lembravam-se: "Olha este, vamos chamá-lo". Era uma coisa sempre pendente em cima da cabeça, uma espada. Tinha medo de ir ao telefone, tinha medo de ir ao correio: não me tratavam mal, nem me batiam, mas era uma coisa muito chata, muito humilhante ir às apresentações. Sempre me deitei muito tarde e sempre me levantei muito tarde, o que para a polícia era horrível: "não trabalha", essas coisas. E há uma manhã em que a minha irmã Henriette me chama e diz: "Mário, acabou a ditadura" - "O quê?", "Acabou a ditadura". Saio para a rua com uma máquina fotográfica e durante quase um ano, não foi um ano certo, mas quase um ano, fosse qual fosse a hora a que eu me deitasse, às oito horas eu levantava-me de cabeça fresca. Percebe o que isto quer dizer...
P. - Quais eram as acções desenvolvidas pelos surrealistas contra o regime?
R. - Havia uma glória em Portugal, que era ser mártir, ser preso e ser torturado pelo regime: nós não achávamos que isso fosse uma coisa interessante, as nossas intervenções eram um bocado aparecer, dizer, sair logo e aparecer noutro lado: uma guerrilha. Como não podíamos fazer uma revolução - e não fizémos, claro -, a nossa revolução foi uma espécie de implosão, foi cá dentro que explodiu; para fora não podia sair, que a censura não deixava, foi por dentro. É pena que não se estude um bocado mais a condição dos surrealistas sob a ditadura, porque havia muita coisa interessante a saber nesse aspecto. E depois morreu o António Maria Lisboa, que, quanto a mim é o maior - dizei que sou eu, mas não sou, é ele o maior, só não tem versos tão bonitos, a poesia dele é uma coisa dura, agreste. Tivemos o atabafamento dos neo-realistas, que eram os realistas-socialistas e tivemos o atabafamento do Salazar: essas duas forças contra nós. As gerações que vieram a seguir, também não sabiam bem o que se passava... Foi um bocado uma ideia louca, porque falei com o André Breton e combinamos fazer uma pequena revista, mas era uma ideia um bocado louca, hoje vejo isso, era impossível tentar uma expansão pública, porque íamos logo para a choça e não estávamos muito interessados em ser mártires e heróis do estalinismo. O Cruzeiro Seixas foi para África, o António Maria Lisboa morreu, o Pedro Oom fechou-se em casa, como grande abjeccionista e, depois, o nosso grupo dispersou-se.
P. - Qual é a grande diferença entre o surrealismo e o abjeccionismo?
R. - Quem captou a grande frase foi o Pedro Oom, o criador do abjeccionismo: "Que pode fazer um homem desesperado, quando o ar é um vómito e nós seres abjectos". Ele refere-se à condição política. O que pode fazer esse homem? Pode suicidar-se, por exemplo. Pode sair para a rua, como os malucos, e matar uma data de gente. O que é que ele fez: meteu-se em casa. Uma vez fui a casa dele e fiquei gelado. Aquilo não era uma casa, era uma coisa despida de tudo, com uma flor de plástico no corredor: nada. O Pedro Oom desistiu de tudo e, no entanto, ele escreveu um ou dois dos mais belos poemas que se escreveram na altura e depois foi para casa e acabou daquela maneira: um suicídio se não pessoal em relação a tudo. Aparecia raras vezes. O abjeccionismo contagiou também um bocado o António Maria Lisboa. O António Maria Lisboa suicidou-se contra vontade, ele não queria realmente morrer, mas são as tais imprudências... foi uma primeira vez a Paris, mas a segunda vez que ia a Paris já não tinha um pulmão...
P. - Foi a morte que mais lhe custou na sua vida?
R. - Não digo isso, mas digo que o António Maria Lisboa era, de certeza, embora a sua obra seja diminuta, um ponto muito alto, se não o mais alto, de todos nós. Para mim, neste século que passou, houve duas grandes revoluções: a russa e a sureealista. A revolução russa acabou no que acabou, uma tragédia, um inferno. A revolução surrealista foi sabiamente soterrada pela sociedade. Primeiro ignorada pela geração que veio a seguir - o Cruzeiro Seixas é de outra opinião, muito optimista, eu não, eu acho que a revolução surrealista não é só os quadros que se põem nas paredes, pretendia-se uma revolução mesmo, muito mais utópica que a russa; agora os Magritte e os Max Ernst valem milhões, que é a maneira da sociedade abafar -, depois porque os actuais membros da Assembleia da República leram o bê-à-bá da literatura portuguesa pela história da literatura portuguesa do Óscar Lopes e do António José Saraiva. O Óscar Lopes era, e ainda é, membro do comité central do PCP, veja o que isto quer dizer, o outro era um espírito mais aberto, mas fez o jeito; de maneira que aprenderam todos o bê-à-bá do enterro do surrealismo e ainda hoje estão nisso.
P. - O que se pode fazer para dar a volta a essa situação?
R. - Não posso fazer nada. Só posso sair para a rua com uma metralhadora e matar uma data de gente.
P. - Cumprir o gesto de Breton?
R. - É. Sair para a rua de revólver. São uma coisa profética, os textos dele, porque isso é o que está a acontecer agora. Na América é dia sim, dia não: a criancinha entra na escola de metralhadora e mata os colegas todos e outras coisas assim. Outra coisa que pode ser um aspecto negativo é a droga, o Breton também a experimentou, mas aquilo atingiu um ponto tal, em grupo... É sabido e contado que uma noite, já não era em casa do Breton, era numa pequena moradia assim género "chateau", já havia um que andava atrás do Eluard com um punhal para o matar, foi pena, deixa lá [risos]f+b.f-b A sociedade apanhou todos os aspectos mais negativos: a droga e o matar a torto e a direito, que é o que está a acontecer, isso é profético.
P. - E quais são os aspectos mais positivos do surrealismo?
R. - É a luta desesperada pelo amor, pela liberdade e pela poesia: é isto. Parece que é uma trindade que vem substituir a liberdade, igualdade, fraternidade: liberdade, amor, poesia - é viver isso, é um bocado complicado, não é?
P. - Já falou de António Maria Lisboa. Outra figura que o marcou e que, em termos plásticos, chegou a comparar a Rimbaud, é Maria Helena Vieira da Silva...
R. - Essa é a velha história que também se prende com a exposição do surrealismo. Tenho um livro chamado "Vieira da Silva/Arpad Szènes, ou o Castelo Surrealista", onde até inventei uma expressão que gosto muito, que é "os surrealistas-copistas". Em Inglaterra, a pintura surrealista é toda metade Dali e metade Magritte, e dali não saiem. Em 40, antes de partirem para o Brasil, a Vieira da Silva e o Arpad fazem uma exposição no atelier deles, exposição tal que o João Gaspar Simões vai lá e faz uma pequena crónica em que fala no Breton e no surrealismo. Quando o António Pedro, estava a tentar lançar o dimensionismo - uma coisa que, se não se opunha, ignorava o surrealismo - com um companheiro se possível mais fascista do que ele, um tal Dutra Faria.
P. - A posição política do surrealismo é o anarquismo?
R. - É capaz de ser. Não, é um socialismo utópico. A última grande exposição organizada pelo André Breton, em Paris, chamou-se - e há um catálogo admirável - "L' Écart Absolu" [dedicada a Charles Fourier, a mostra teve lugar na Galeria L'Oeil, em1965] , quer dizer "afastamento absoluto", total, da política, da arte: desaparecer. Porque falhou: não falhou nos museus, mas o voto profundo dos surrealistas, que era também uma revolução social e a revolução total da linguagem e a revolução total das revoluções humanas: tudo isso falhou.
P. - No caso das relações sexuais, os surrealistas, sobretudo Breton, foram sempre muito rigorosos quanto à homossexualidade...
R. - Isso diz-se do Breton e é verdade, mas o homem era assim, o que é que se há de fazer. Mas lembro que nas célebres conversas sobre a sexualidade, o Péret diz não é contra nem a favor: "Não tenho nada com isso". E o Breton responde: "Se continua com esses termos eu vou-me embora". É uma opção pessoal. E no entanto, que ele tinha dessas coisas à czar... fazia excepções, como o Marquês de Sade. É evidente que o Breton terá tido os seus deslizes, como toda a gente. O [René] Crevel era homossexual e o Breton sabia-o perfeitamente, e o Crevel matou-se por causa do Breton, quando foi a história do congresso de escritores em prol da União Soviética, em que não deixaram falar o Breton; o Crevel - os textos dele são muito importantes - matou-se e deixou um papel a dizer "enojado". E também é discutível a história da "femme-enfant", a mulher-menina, que também é um mito do Breton; mas isso são mitos pessoais, não são obrigatórios: a culpa não é do Breton, a culpa é de quem aceitava a gritaria. Eu não aceito isso, pronto, acabou-se.
P. - Há alguns anos, em Madrid, Eugénio Granell, recentemente falecido, falava de si com grande apreço. Como se conheceram?
R. - O nosso encontro foi muito bonito. Conheci-o em Nova Iorque: havia uma exposição chamada "Exposição Mundial do Surrealismo", em Chicago. A Gulbenkian pagou e eu fui lá - parece que é assim, para se ir ao México tem de se aterrar primeiro em Nova Iorque, era assim, não sei se ainda é - e então ficámos uns dias em Nova Iorque e foi aí que conheci o Eugénio Granell, acho que ele ficou a gostar muito de mim, sobretudo porque eu era um português, isso foi em 1975, era o ano quente da revolução, que ele acompanhava muito pela rádio, porque lhe interessava. Eu fiz-lhe uma entrevista bastante grande, onde ele pôs os seus pontos de vista, e acho que ficou grato por eu lhe ter aparecido em casa e o pôr a falar do que acontecia e do que não acontecia, porque é evidente que o 25 de Abril teve muita importância para a própria Espanha. Tenho uma admiração muito grande por ele: na pintura considero-o um dos pintores mais originais do surrealismo espanhol. Não foi como o Picasso roubar à arte negra, que não é para pôr na parede - a arte negra é para cachimbos, é para fazer cadeiras, tem um sentido utilitário ou então tem um sentido sagrado, e o Picasso, com todo o seu talento, que é enorme, transformou aquilo numa coisa decorativa. E o Granell é muito original como surrealista espanhol, não foi à arte negra, nem às criancinhas, como o Miró - o Miró é muito bom, mas foi às criancinhas - e o Granell tirou aquilo lá não sei donde: para mim é o mais original, não digo que seja o maior ou o menor, isso não interessa. E depois, pessoalmente, teve uma vida admirável, de resistente: até ao fim, quis ser enterrado com a bandeira republicana: tudo isso é de uma coerência... e as perseguições que ele teve dos comunistas, porque ele era do POUM [trotskistas catalães]. E até no estrangeiro quem se encarregava disso era o Pablo Neruda, que pode ser um grande poeta, mas era um grande sacana ao serviço do comunismo soviético.
P. - Há um quadro seu em que homenageia Teixeira de Pascoaes...
R. - O Pascoaes é o grande poeta, não tenho nada contra o Pessoa, mas para mim o Pascoaes é o velho da montanha, é o mágico. Sabe que ele tinha lá no solar uma divisão em vidro no exterior, quando havia grandes tempestades devia ser uma coisa formidável, uma trovoada no Marão...
P. - Dizia-se que ele tinha poderes mágicos, druídicos...
R. - O João [um familiar de Pascoaes] contou-me e eu perguntei-lhe: "Você que idade tinha?", "Para aí 19 anos, vi-o sair do escritório com a cabeça em chamas". Isso é corroborado por um simples camponês que viu o Pascoaes vir não sei de onde e disse: "Quem é aquele homem que deita fogo pela cabeça?" Estava a carregar lá naquela coisa de vidro. Mas isto atira tudo para um terreno que as pessoas não gostam, cheira ao paranormal. A poesia dele - e talvez não propriamente os versos,"O Bailado" em prosa, por exemplo - é uma coisa formidável...
P. - "S. Paulo" é um texto notável...
R. - Desses o que ainda gosto mais é "S. Jerónimo e a Trovoada", porque é aflitivo, parece que ele estava lá. Não nego o talento poético do Pessoa, mas tornou-se odioso, porque já se ganha a vida à custa do Pessoa: é demais, já não pode ser. Nós temos grandes poetas desde os galaico-portugueses, não é? Isto acontece porque o Pessoa pegou lá fora, não é por outro motivo. Como pegou lá fora, então a saloiada toca toda a pegar no Pessoa nas universidades. O Camilo Pessanha não é inferior ao Pessoa; há muitos, o Sá-Carneiro...
P. - Foi por isso que escreveu "O Virgem Negra"?
R. - Não é contra ele, mas é contra a igreja dele. Isso tem uma segunda edição onde acrescentei mais duas cartas inventadas, mas muito giras.
P. - Na exposição tem um verso seu: "Ama como a estrada começa". Qual é essa estrada?
R. - Oh, aí é que está. Não sei, é com cada um. "Ama como a estrada começa" é o sentido da criação original, começa e vai...
P. - Falou nos antecessores, como Pascoes ou a própria Vieira da Silva. Actualmente quem é poderia ser visto na continuidade da tradição surrealista? Recordo, por exemplo, Álvaro Lapa...
R.- Se ele quiser entra à vontade, se não quiser não entra: o resultado é igual. E a Paula Rego, com certeza, essa tem a sorte de ter fama internacional; ela disse-me que está dentro. E entre os novos, novíssimos, o Álvaro Lapa. E parece que está a aparecer mais gente, veremos.
Entrevista de Maria Bochicchio, 2006
Em Maio de 2006, a convite dos professores Piero Ceccucci e Arnaldo Saraiva, participei em Milão num congresso sobre Eugénio de Andrade, onde tive a oportunidade de encontrar o professor Perfecto Cuadrado. Em conversa com ele sobre o surrealismo português, em que é especialista, dei-lhe conta da minha muita admiração por Mário Cesariny, que por sinal fora grande amigo de Eugénio e que eu só conhecia pelos seus poemas. Para grande surpresa minha, Perfecto Cuadrado passava-me daí a pouco o seu telemóvel para as minhas mãos, dizendo-me que do outro lado da linha estava o autor de Pena Capital. Já não sei bem o que dissemos, para lá da divertida troca informal de cumprimentos. Mas sei que logo ali marcámos um encontro em Lisboa. Esse encontro aconteceu em finais de Junho, num dia invulgarmente quente. Estava longe de saber que esta seria (creio) a última entrevista literária concedida por Cesariny. Mas «a maravilha do acaso», de que o poeta fala, às vezes também ocorre nas vidas quotidianas. Cesariny recebeu-me na sua casa: um sorriso vivo, um olhar aberto e límpido, e aquele seu cigarro, mais cinza do que cigarro, como prolongamento natural dos seus dedos. Uma ironia gentil que qualquer transposição para papel acaba sempre por atraiçoar. E as primeiras palavras, que me receberam à chegada: «Que posso fazer por si? Disponha à vontade.»
Espero que goste desta pequena lembrança de Itália.
Mas o que é que me traz aqui?
Um Brunello di Montalcino porventura o melhor vinho italiano para saborear numa hora especial.
Sabe que eu tenho origem italiana?
Sei, e por isso lhe trouxe o Montalcino.
O meu nome, «Rossi», foi uma descoberta minha, é um nome que remonta à Idade Média, a Florença, à luta entre guelfos e gibelinos.
Então os seus antepassados eram companheiros de Dante.
Ou Dante era companheiro dos meus antepassados, não sei bem...
E, depois de todos estes séculos, aqui estamos, na sua Lisboa, para falarmos ainda de poesia. Como define a poesia?
A técnica mais proibida da mágica mais procurada. A poesia nasce do contacto com o mundo na solidão em que nos encontramos. E às vezes confrontados com uma ditadura em cima, como a que recusámos violentamente.
O seu amigo Eugénio de Andrade costumava dizer que «sacrificou a vida por um verso». Sente que sacrificou algo pela sua poesia?
Nada. Sempre foi um prazer, um gosto de liberdade.
E o que procurava na sua poesia? O real, todos os aspectos do real, porque o real era para ser combatido, e nós procurávamos a defesa do amor, da liberdade e da poesia.
O real, o «real quotidiano». Porquê o real quotidiano? Porque não presta. Porque é o que menos interessa. Eu sempre desejei ir além, ir para dentro. O que presta é o amor, a liberdade e a poesia. A poesia é esse real absoluto que quanto mais poético mais verdadeiro. Era Novalis quem o dizia. A poesia vale como uma liberdade mágica.
E o que procurava na sua poesia? O real, todos os aspectos do real, porque o real era para ser combatido, e nós procurávamos a defesa do amor, da liberdade e da poesia.
O real, o «real quotidiano». Porquê o real quotidiano? Porque não presta. Porque é o que menos interessa. Eu sempre desejei ir além, ir para dentro. O que presta é o amor, a liberdade e a poesia. A poesia é esse real absoluto que quanto mais poético mais verdadeiro. Era Novalis quem o dizia. A poesia vale como uma liberdade mágica.
E como se chega à poesia?
A poesia é um segredo dos deuses. Não é trabalho, embora às vezes se possa morrer de trabalho. Creio que sou um poeta inspirado, no sentido romântico de «daimon» - génio. Até ao momento em que o poeta se fecha e parte, voa. E depois fica igual aos outros.
Se tivesse de isolar um corpo poemático, quais seriam para si os poemas que exprimem melhor a sua arte poética? É muito difícil para mim responder-lhe directamente, não sou um crítico, não tenho essa distância para falar da minha poesia. Mas creio que a minha arte poética concentra-se nos poemas «Mágica», «Cabala Fonética». A Cabala é importante na teoria surrealista, é o ponto supremo onde todas as coisas seriam uma só, e também em «arte poética», onde se impõe por exemplo a união entre ritmo e rima.
Nos seus poemas usa ritmos, versos e estrofes distintos. Gosta de variar de estilos ou de modalidades expressivas, incluindo as populares? Gosto de quadras de modelo popular, como gosto de anáforas. E sabe que publiquei uma antologia de folhetos de cordel? As palavras encantam-me pela sua ineficácia. São um «exercício espiritual», são aquilo que é preciso dizer. Para mim, a palavra poética é a palavra verdadeira. É a única que diz.
Na sua poesia quis valer-se de linguagens diferenciadas ou elas sempre estiveram ao serviço da sua linguagem? Tive uma fase em que era contra o neo-realismo, isso nos primeiros poemas, na Nobilíssima Visão, mas usava uma linguagem neo-realista, escrevia como um neo-realista. Depois, a poesia passou a ser texto automático, fascínio pela técnica da escrita poética, experimentalismo.
Trabalhava muito os seus poemas? Não muito. Não é poesia trabalhada, é antes poesia encontrada. Esteticamente, era o que acontecia. Trabalhava obcecado e dominado por esse tal «daimon».
Segundo Mallarmé e Valéry, a poesia pode resgatar a arbitrariedade da linguagem... Mas a linguagem é arbitrária.
Sempre? Essa arbitrariedade está no desconforto permanente entre nós e o mundo, por isso a linguagem é e não é arbitrária.
E, quando concluía o trabalho, não voltava atrás? Uma vez entregue o poema, nunca mais o lia.
Também se dedicou à música e, como poeta e pintor, por certo acredita nalguma correspondência entre as artes. Se tivesse de indicar os instrumentos musicais mais adequados aos seus poemas, quais nomearia? A flauta grega e o violino actual.
E será o poeta um músico? O que é o poeta? O poeta é o autor do poema e é também um actor, um prestidigitador. Ele representa o seu próprio impulso poético. No «Manual de Magia», que passou a chamar-se Manual de Prestidigitação, o poeta é um mago. É um mago que não encontrou os utensílios necessários para a sua própria alquimia. E que ficou preso na alegria do mundo. O que ele não encontrou permitiu-lhe estar disponível para a maravilha do acaso.
Mas a «maravilha do acaso» não o impede de falar na primeira pessoa... A primeira pessoa é aquilo que tenho mais à mão.
E o leitor? Pensa no leitor quando escreve os seus poemas? A poesia não se dirige a um leitor, dirige-se a mim próprio.
Lembrei há pouco que também é pintor. Sente-se mais um pintor-poeta ou um poeta-pintor? É a mesma coisa.
Como foram os seus primeiros contactos com o surrealismo? Através de Alexandre O’Neill, Maurice Nadeau. No fim da II Guerra Mundial, o surrealismo tinha acabado, mas nós achávamos que ainda não tinha acabado. Então adoptámos o surrealismo, porque ele representava a realização total do nosso estado de espírito, a defesa do amor, da liberdade e da poesia.
E estabeleceu alguma relação com o surrealismo italiano? Lembro-me de Lanfranco e do movimento do realismo mágico, mas não tive contactos directos nem fui influenciado.
Por que autores se sentiu mais influenciado? Por André Breton, claro, por Antonin Artaud e até pelas cantigas de amigo. Actualmente, creio que pelo Mário de Sá-Carneiro.
Olhando para a realidadepoética e cultural de hoje, que diferenças encontra com a do seu tempo? Se não me pergunta, eu sei. Mas se me pergunta, já não sei.
Então terminemos com Mário Cesariny a fazer uma pergunta a Mário Cesariny. A pergunta, também não a sei. Mas a resposta... «sarà quel che sarà!»
Se tivesse de isolar um corpo poemático, quais seriam para si os poemas que exprimem melhor a sua arte poética? É muito difícil para mim responder-lhe directamente, não sou um crítico, não tenho essa distância para falar da minha poesia. Mas creio que a minha arte poética concentra-se nos poemas «Mágica», «Cabala Fonética». A Cabala é importante na teoria surrealista, é o ponto supremo onde todas as coisas seriam uma só, e também em «arte poética», onde se impõe por exemplo a união entre ritmo e rima.
Nos seus poemas usa ritmos, versos e estrofes distintos. Gosta de variar de estilos ou de modalidades expressivas, incluindo as populares? Gosto de quadras de modelo popular, como gosto de anáforas. E sabe que publiquei uma antologia de folhetos de cordel? As palavras encantam-me pela sua ineficácia. São um «exercício espiritual», são aquilo que é preciso dizer. Para mim, a palavra poética é a palavra verdadeira. É a única que diz.
Na sua poesia quis valer-se de linguagens diferenciadas ou elas sempre estiveram ao serviço da sua linguagem? Tive uma fase em que era contra o neo-realismo, isso nos primeiros poemas, na Nobilíssima Visão, mas usava uma linguagem neo-realista, escrevia como um neo-realista. Depois, a poesia passou a ser texto automático, fascínio pela técnica da escrita poética, experimentalismo.
Trabalhava muito os seus poemas? Não muito. Não é poesia trabalhada, é antes poesia encontrada. Esteticamente, era o que acontecia. Trabalhava obcecado e dominado por esse tal «daimon».
Segundo Mallarmé e Valéry, a poesia pode resgatar a arbitrariedade da linguagem... Mas a linguagem é arbitrária.
Sempre? Essa arbitrariedade está no desconforto permanente entre nós e o mundo, por isso a linguagem é e não é arbitrária.
E, quando concluía o trabalho, não voltava atrás? Uma vez entregue o poema, nunca mais o lia.
Também se dedicou à música e, como poeta e pintor, por certo acredita nalguma correspondência entre as artes. Se tivesse de indicar os instrumentos musicais mais adequados aos seus poemas, quais nomearia? A flauta grega e o violino actual.
E será o poeta um músico? O que é o poeta? O poeta é o autor do poema e é também um actor, um prestidigitador. Ele representa o seu próprio impulso poético. No «Manual de Magia», que passou a chamar-se Manual de Prestidigitação, o poeta é um mago. É um mago que não encontrou os utensílios necessários para a sua própria alquimia. E que ficou preso na alegria do mundo. O que ele não encontrou permitiu-lhe estar disponível para a maravilha do acaso.
Mas a «maravilha do acaso» não o impede de falar na primeira pessoa... A primeira pessoa é aquilo que tenho mais à mão.
E o leitor? Pensa no leitor quando escreve os seus poemas? A poesia não se dirige a um leitor, dirige-se a mim próprio.
Lembrei há pouco que também é pintor. Sente-se mais um pintor-poeta ou um poeta-pintor? É a mesma coisa.
Como foram os seus primeiros contactos com o surrealismo? Através de Alexandre O’Neill, Maurice Nadeau. No fim da II Guerra Mundial, o surrealismo tinha acabado, mas nós achávamos que ainda não tinha acabado. Então adoptámos o surrealismo, porque ele representava a realização total do nosso estado de espírito, a defesa do amor, da liberdade e da poesia.
E estabeleceu alguma relação com o surrealismo italiano? Lembro-me de Lanfranco e do movimento do realismo mágico, mas não tive contactos directos nem fui influenciado.
Por que autores se sentiu mais influenciado? Por André Breton, claro, por Antonin Artaud e até pelas cantigas de amigo. Actualmente, creio que pelo Mário de Sá-Carneiro.
Olhando para a realidadepoética e cultural de hoje, que diferenças encontra com a do seu tempo? Se não me pergunta, eu sei. Mas se me pergunta, já não sei.
Então terminemos com Mário Cesariny a fazer uma pergunta a Mário Cesariny. A pergunta, também não a sei. Mas a resposta... «sarà quel che sarà!»
______________________________
Em 2006 o semanário O Sol divulga a última entrevista de Mário Cesariny com alguns excertos aúdio.
26 de NOVEMBRO DE 2006
Poeta e pintor morreu este domingo
Poeta e pintor morreu este domingo
A última entrevista de Mário Cesariny
Figura de proa do movimento surrealista português, Mário Cesariny faleceu na madrugada de domingo, após luta contra uma doença prolongada. O SOL republica agora o último grande testemunho de um artista incómodo.
Um dote? Queria que fossem viver para Paris. O meu pai concordou. Casaram e foram, em 1914. Chegaram lá, rebentou a guerra e voltaram para trás. Nós não nascemos em Paris por causa da Primeira Guerra Mundial.
Que recordações guarda da sua infância? O meu pai era de uma família de ourives do Norte. Gostavam de passar férias de Verão em Moledo do Minho, perto de Caminha, quase na fronteira. O Norte era muito livre de costumes. Rapazes e raparigas f.... Só o padre é que ralhava com elas, à saída da missa. Eu assisti a isso, ele dava-lhes caneladas e dizia: ‘Vais para o mato com eles...’ Elas riam-se. Não me dei bem com o meu pai, claro. Nenhum de nós se dava bem com ele. Quando casou com a minha mãe, gostava muito dela, mas depois não sei o que aconteceu. Talvez fosse o feitio dele. Batia-lhe. Éramos quatro filhos atrás da mãe, a defendê-la do pai.
Ele chegou a bater-lhe à vossa frente? Sim, mas gostava dela, à sua maneira. Tenho a impressão de que a minha mãe casou com ele na mira de ir para Paris.
É verdade que o seu pai queria que fosse ourives? Pois queria. Isso foi uma grande luta. Depois também não me deixou seguir música. Quando fazia exercícios ao piano, ele ficava doido. Tive de desistir.
Chegou a estudar com o Fernando Lopes-Graça… O Graça dava-me lições de graça. O paizinho não pagava isso.
A relação com o seu pai era, portanto, complicada. Era impossível. Tudo o que ele me propunha, eu não queria.
E com a sua mãe, como era? A mãe foi uma santa. Devo-lhe tudo, protegeu-me sempre
O Mário teve três irmãs. A Henriette, a Carmo e a Luísa.
Além de ser o mais novo, era o único rapaz… Era. E ainda por cima saí homossexual, imagine.
Acha que o seu pai soube? A minha mãe protegeu-me sempre, nunca se falou nisso com o meu pai. Mas acho que sabia. Uma vez mandou-me às p... e eu não fiz nada. Muitos anos depois, o meu cunhado mandou-me a uma menina e eu portei-me bem, mas vim de lá com uma dúvida horrível. Dei duas de seguida, sem prazer nenhum, e pensei que talvez acontecesse o mesmo às pessoas que iam comigo
Depois da primária, foi para a Escola António Arroio...
Antes disso, estive um ano no Liceu Gil Vicente, mas não era para seguir carreira, era para o meu pai saber se eu era estúpido ou não, se tinha boas notas.
E tinha? Tinha. Depois ele tirou-me de lá.
Como é que o Mário chegou à Escola António Arroio? O meu pai primeiro pôs-me lá para tirar o curso de cinzelagem. E tirei. Depois mudou-se isso para um curso de habilitação às Belas-Artes, por minha iniciativa. A escola tinha um bom director, o Falcão Trigoso, um velhote de barbicha que pintava amendoeiras floridas e coisas assim, mas que nos defendeu da mística do Salazar. Quando, por fim, o Salazar o pôs na rua, no dia seguinte entraram os uniformes da Mocidade Portuguesa, a separação dos sexos, as aulas de moral... Mas nós já estávamos precavidos por esse director.
Foi na António Arroio que conheceu a trupe surrealista? Quase toda. O António Maria Lisboa não andou lá, nem o Pedro Oom, nem o Risques Pereira. O Cruzeiro Seixas, sim, o Fernando José Francisco, sim. Não me lembro de mais…
Foi lá que desenvolveram as primeiras actividades? O Café Hermínius é que era a nossa academia.
Como é que surgiu o movimento surrealista em Portugal? Não havia bem movimento, havia um grupo. Movimento não se podia ter, por causa do Salazar. Foi uma época difícil para quem pintava. Foi difícil para toda a gente, com a ditadura, não é? Não havia galerias para expor, a não ser a do Estado – o Secretariado Nacional de Informação – e a dos velhotes conservadores – a Sociedade de Belas Artes. Nenhum desses salões nos convinha. A pintura passou a ser uma coisa pessoal, para nós. Nem pensávamos em expor.
Era sobretudo uma manifestação da vossa liberdade… Lembro-me que, uma vez, na primeira exposição que fizemos, em 1949, resolvemos fazer uma noite dos poetas, num aposento muito engraçado, todo forrado com figuras, que era da Pathé-Baby, ali ao pé da Sé Catedral. Lemos poemas do Victor Brauner, do André Breton, do Antonin Artaud e alguns nossos. Com uma certa encenação. Estilhaçámos uma data de vidros no chão e deitámos tinta. Mas a encenação, grande ou pequena, era só para nós, porque não foi lá ninguém, nem nós queríamos que fosse. Fechámos a porta à chave. E assim continuámos. A imprensa de Lisboa não dedicou uma linha à nossa exposição, mas a do António Pedro e do então Grupo Surrealista de Lisboa causou um escarcéu desgraçado. Até apareceu no jornal sonoro. O António Pedro tinha muitos conhecimentos, assustava muita gente, nós não assustávamos ninguém …
A ideia de fazerem para vocês tinha só a ver com o ambiente da época ou, no fundo, queriam mesmo que fosse assim? Nós fizemos uma revolução. Mas acho que implodimos, não explodimos. E andámos sempre clandestinos por aí. Clandestinos no sentido lato: fazer uma coisa num sítio e desaparecer, depois aparecer noutro e desaparecer… Até que houve as célebres sessões na Casa do Alentejo, em que fomos dizer ao povo o que era o surrealismo.
E o que era o surrealismo? Éramos nós [risos]. Lemos textos, poemas, e uma declaração chamada 'Afixação Proibida'. A assistência gostou muito e depois da sessão queria que explicássemos o que era o surrealismo.
Para o Mário, como começou o surrealismo? Estávamos eu e o Alexandre O’Neill muito incomodados com os neo-realistas e ele, uma vez, trouxe-me um livro em francês e disse: ‘Lê isto’. Era a História do Surrealismo, do Maurice Nadeau, que, no final do volume, dizia que os surrealistas já tinham dado o que tinham a dar. Mas o nosso começo foi aí.
Em que altura foi isso, mais ou menos? Em 1947.
Também nesse ano, foi a Paris e conheceu o André Breton… Fui. Mas eu já ia surrealista, não fui lá ser surrealista. Queria era conhecê-lo!
Como é que se deu esse encontro? Fui a casa dele, bati à porta e ninguém respondeu. Ele tinha um letreiro à porta a dizer: ‘Não quero entrevistas, não quero isto, não quero aquilo’. Eu deixei lá um papel: ‘Não quero entrevistas, não quero isto, não quero aquilo. Quero falar consigo’. Então, à segunda vez que lá fui, recebeu-me e combinei umas coisas com ele, que o António Pedro tratou de destruir, porque foi lá depois. Eu tinha a ideia de uma pequena publicação, uma coisa modesta, porque não havia muito dinheiro, nem havia razão para fazer muito barulho, por causa da polícia. O António Pedro falou com o Breton, pôs este projecto de parte e propôs a reedição da Variante, uma revista que ele fazia em grande luxo, com o surrealismo de todo o mundo e não sei o quê. Depois, não fez. Quer dizer, não houve a minha coisa modesta nem a coisa espampanante dele. Primeiro, pedimos colaborações para Nova Iorque, para Paris, para toda a parte. Depois de nos entregarem as coisas, ele decidiu que não havia dinheiro. Era mentira. Tivemos a lata de devolver tudo. Coisas dessas fizeram a minha saída do Grupo Surrealista de Lisboa.
E acabaram por conduzir à formação do grupo dissidente, Os Surrealistas. Pois… Uma parte do nosso grupo andava na António Arroio – tanto do grupo dissidente, como do oficial. Estava o Fernando Azevedo, o Vespeira, o Júlio Pomar... Quanto a nós, estávamos eu, o Cruzeiro Seixas, o Pedro Oom… Depois, estes três ou quatro trouxeram o Fernando José Francisco e fizemos uma exposição, em que entrou também o Carlos Calvet. A própria escolha do nome, Os Surrealistas, foi uma provocação, como quem diz: ‘Nós é que somos os verdadeiros’. A nossa simples existência já era uma provocação e quando a afirmámos publicamente, isso então foi um grande sarilho. Até que eles desistiram. Fecharam a loja sabe com que álibi? Com o da ‘discrepância de horários’. A gente também lhes fazia a vida negra, na Casa do Alentejo, naquelas sessões… Acabaram com o grupo e foram fazer teatro para o Apolo.
Depois das primeiras exposições, houve uma altura em que esteve algum tempo fora de Portugal... Onde estive mais tempo foi em Inglaterra. Com as idas e vindas, estive sete anos em Londres, na década de 60. Estava farto de latinos e fiquei a gostar dos anglo-saxónicos. Chamam-lhes hipócritas, mas eles não são. São actores. Estão sempre a representar Shakespeare. Um vagabundo chega à tabacaria e pede: ‘May I have a box of matches, please?’ Isto é linguagem de príncipe. ‘May I have’... ‘Poderei eu ter ...Uma caixa de fósforos’. Um vagabundo. Os outros são iguais ou ainda mais sofisticados. Já os americanos são uma espécie de ingleses a quem tiraram a inquietação, a metafísica. De maneira que eles andam muito contentes, ‘How are you?’, ‘Fine, thank you’. Com imensas dores de estômago porque a comida é muito má.
O Mário também costuma falar de uma estada em Paris, financiada com a venda de um quadro da Vieira da Silva… É verdade. Eu escrevi-lhe a dizer: ‘Maria Helena, estão a apertar muito o rabo do gato’. A polícia fazia-me lá ir como suspeito de vagabundagem. Então, a Vieira da Silva, através do Manuel Cargaleiro, deu-me um quadro dela, muito bonito. Eu só pedia dinheiro para a passagem, mas aquilo rendeu imensa massa, que eu fui conspicuamente gastar lá para fora. Como é que conheceu a Vieira da Silva? Ela veio a Lisboa, e eu escrevi um artigo a falar nela, porque ela era desconhecida por cá. Aconselhava-a a não se demorar muito, porque ainda ficava estragada. Ela gostou e quis conhecer- me. Fui conhecê-la ao ateliê dela e do Arpad Szenes, ali nas Amoreiras.
A partir daí, ficaram muito amigos. De resto, o Mário, sempre foi assim: capaz de grandes amizades, grandes amores e grandes ódios... ... Grandes nevoeiros... Foi o que aconteceu com o próprio grupo surrealista dissidente. Muitos de vós seguiram caminhos diferentes, com algumas rupturas pelo meio. A partir de certa altura, este grupo também se desfez. O Cruzeiro Seixas foi para África, o António Maria Lisboa morreu tuberculoso... Deixámos de nos procurar. E o Mário ficou isolado como representante do surrealismo em Portugal.
Não pensava nisso. Nem as pessoas acreditavam. Para elas, o António Pedro continuava a ser o grande surrealista. Com a democracia, esfuma-se a história do surrealismo.
O Mário continuou a escrever e a pintar, mas já sem aquele espírito de grupo. O José Escada, o pintor, fazia umas coisas em papel vermelho, e fez uns cravos, os cravos do 25 de Abril, com uma dedicatória bonita: ‘Ao Mário, que há muito tempo desconhece o perfume’.
Diz que a liberdade devia estar acima de tudo. É essa a essência do surrealismo? A liberdade, o amor, a poesia. É esta a tríade do surrealismo, que vem colocar-se ao lado, ou à frente, da liberdade, igualdade, fraternidade, da Revolução Francesa. Era essa a nossa bandeira.
E o Mário passou com a mesma paixão por todas essas três coisas… Como já lhe disse, a nossa descoberta do surrealismo não fez uma explosão, fez uma implosão. Também não era tempo de andar a falar alto. Íamos para a choça, o que não nos agradava muito. Os neo-realistas ficavam muito honrados quando iam presos. Nós não achávamos graça nenhuma [risos].
Diz que, para si, a pintura é mais terapêutica do que a poesia. Porquê? Na poesia tens de escrever se estás zangado, se estás optimista, se estás apaixonado. Coisas que na pintura não existem. Embora não seja, parece uma coisa mais impessoal. Não fala das dores de estômago ou das dores de cabeça, das dores de corno. O pincel não dá isso.
O que é que o pincel dá? Dá uma realização da pessoa, de que o quadro é a prova. Faz sentido perguntarem-lhe o que é que tem mais peso para si, se a pintura, se a escrita? À medida que fui agarrando mais a pintura… ou, ao contrário, à medida que ia deixando mais a poesia escrita, ia-me ocupando mais com a pintura. Com a poesia pintada, se quiser. A poesia morde mais o fígado: se odeia, odeia, se não odeia não odeia. A pintura parece uma coisa objectiva, fora de nós. Suja as mãos, limpa-se o pincel, há o cavalete e a tela. A poesia não. É apenas entre a nossa cabeça e o papel.
Costuma falar muito do ambiente, de como a Lisboa de hoje já não é a mesma, queixa-se da falta dos cafés...
A Lisboa do nosso tempo acabou. Os cafés onde a gente se reunia desapareceram, começaram por pôr lá a televisão. Ora, é impossível não olhar para uma televisão ligada. Já não podíamos estar à vontade. Estávamos ali metidos para perder a vida, para não trabalhar em escritórios e aturar o patrão nojento. Éramos, de facto, todos vagabundos. Embora eu é que tenha merecido a honra de ser considerado suspeito de vagabundo pela polícia. No fundo, só o 25 de Abril é que acabou com isso. Em compensação, também dissipou a atmosfera de encontro que havia dantes. Hoje está cada qual no seu buraco.
Como é que lida com o reconhecimento que tem recebido nos últimos anos? Não dou muita atenção a isso, sabe? Recebi com alegria a Ordem da Liberdade, porque era a Ordem da Liberdade. Liberté chérie! Agora vivo num deserto. Tenho alguns amigos, muito poucos. Mas realmente não há onde ir, em Lisboa. Quer dizer, para mim, porque a gente mais nova junta-se nos pubs, com a música muito alta, para não terem de falar eles. Nem falar, nem pensar.
Em Outubro vai editar um livro de serigrafias, em homenagem a Timothy McVeigh, condenado àmortepelo atentado em Oklahoma. O que pensa da pena de morte? Não devia ser permitida. Ele também não devia ter morto 700 pessoas. Mas olho por olho, dente por dente é a selvajaria.
Abriu no dia 20 de Setembro, no Círculo de Belas Artes, em Madrid, uma retrospectiva dedicada à sua obra. Como se sente em relação a isso? A minha perna não me deve deixar ir lá, o que é uma chatice, mas por outro lado é bom. Eles que se distraiam uns aos outros. É claro que fico contente por ter uma exposição em Madrid, mas por outro lado não ligo nenhuma. Estou-me bastante nas tintas. Não digo isto aos organizadores, mas é a verdade. Quero lá saber!
Já o ouvi dizer qualquer coisa do estilo: está o poeta, o artista, no pedestal, e depois volta para casa sozinho. O Mário sente-se só? Acho que sim. Sinto-me só, com as minhas ideias, que me fazem companhia, e com um ou outro amigo que ainda existe, com quem fizemos batalhas, como o Cruzeiro Seixas ou o Fernando José Francisco… Ou o Mário Henrique Leiria, que morreu, o António Maria Lisboa, que morreu, o Pedro Oom, que morreu, o Henrique Risques Pereira, que morreu, o Fernando Alves dos Santos, que morreu... Tenho de me sentir sozinho. Estava escrito que eu ia durar até aos 80 e tais.
Como lida com a idade, como envelhecimento do corpo? A idade põe-me uma série de chatices físicas que me impedem de atingir a metafísica. São coisas várias que me ocupam e me impedem de circular normalmente.
Mas a cabeça está óptima… Acha?
E o Mário, o que acha? A cabeça tem um órgão vital à disposição, chamado Eros, a vida erótica, que me faz falta, porque essa vida para mim acabou. Se o cérebro ainda pia alguma coisa, é muito de admirar [risos] …
Fica a liberdade e a poesia… Fica… Já não é pouco…
O Mário apaixonou-se muito? Acho que a vida sem paixão é um deserto.
Mas o grande amor, aquele de que falam os poetas, encontrou- o? Talvez tenha encontrado e não tenha dado por isso. Houve realmente um amor importante, com uma pessoa que já morreu. Um amor que acabou muito mal, com a PIDE metida na nossa cama, uma coisa horrível. Acho que depois disso, dados os resultados concretos, troquei a Grécia por Roma. Sabe o que eu quero dizer? Há o Eros mental e depois há o que se espalha pelo corpo, que é outra coisa.
Não quer explicar melhor? A Grécia foi um amor que eu tive com um moço. Ele depois foi para a tropa e escreveu-me uma carta que a PIDE leu. Ele ia indo parar a África por causa disso, porque dizia: ‘Não sei quando saio da tropa. Os nossos patrões, os americanos, é que devem saber’. A PIDE pegou naquilo e meteu-o na cadeia. Mas a carta era também uma carta de amor, sabe? De maneira que era demasiado horroroso ter a PIDE na cama connosco. E assim começou a Roma: mais sexo do que amor.
Nunca mais se encontraram? Encontrei-o esporadicamente, já sem elo amoroso.
Voltou a ter esse elo com alguém? Não.
É por isso que diz que trocou a Grécia por Roma. Não imagina a quantidade de pessoas que eu fiz.
Há até uma frase sua, em que diz: ‘Rapazinhos por dia, dois, marinheiros, três’. [risos] Eu tinha um amigo espanhol que estava cá, o Francisco Aranda, que conhecia um inglês, daqueles muito sofisticados, aristocratas, mas muito inteligentes. Ele veio cá e o Aranda apresentou-mo. Estávamos na conversa, eram cinco e meia: ‘Tea Time’. É hora do chá. Eu pensei: ‘Espera aí que já te dou o chá’. Então, fomos com esse amigo inglês assistir à saída da Marinha. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte voltou para Londres – não teve nenhum caso, foi só de ver – arrumou as coisas dele e veio viver para cá. Nessa altura, os marinheiros recebiam o fardamento e iam à costureira para o ajustar bem. Quase se via o contorno do sexo. Eles tinham vaidade nisso, além de que havia gente bonita.
Nessa altura, sendo tudo tão escondido, eram assim tão fáceis os contactos sexuais entre homens? Cheguei a publicar num jornal uma coisa que hoje não se entende: Portugal era o país mais homossexual do mundo. E não era só a Marinha. O 25 de Abril, com a libertação dos homossexuais, também libertou a Marinha desse hábito. Passaram a considerar-se uns homenzinhos que não fazem essas coisas. Agora fazem entre eles ou com um tenente qualquer. Não sei o que os chefes lhes disseram, mas realmente não apareceram mais os marujos. Mas apareceram os comandos. Todos os dias havia passagem de comandos na estação do Rossio, para engate.
Qual é a sua opinião sobre as manifestações do orgulho gay, hoje em dia? Acho feio, porque em vez de aparecerem como pessoas normais, põem umas mamas, pintam-se, ficam uns verdadeiros abortos. E saem assim para a rua. Eu, que sou homossexual, se encontrasse aquilo na rua, passava para outro passeio, porque em vez de angariarem simpatia, ofendem.
Quando é que o Mário tomou consciência da sua homossexualidade? Nos meus tempos da António Arroio, já sabia.
Mas nessa altura não era uma coisa que fosse falada. Como é que lidou com essa descoberta? Lidei conforme podia. O que fazia era em segredo, sempre. Tem a ver com a Lisboa dessa época. Havia urinóis espantosos, que eram sítios de encontro. Estavam sempre cheios. Muitas vezes, quem queria mesmo mijar, ficava aflitíssimo, porque as pessoas não saíam de lá [risos].
Que idade tinha quando teve as primeiras experiências? Foi para aí em 1942 ou 43.
Chegou a confessar a sua homossexualidade às autoridades. Quer contar como foi? Isto era assim: três vezes apanhado na rua com outro senhor, dava direito a ser mandado para a Polícia Judiciária. Depois, a Judiciária teve-me como suspeito de vagabundagem todo o tempo que quis. Não queriam provas, queriam a suspeita, porque a suspeita podia continuar sempre.
Então, um dia, perdeu a paciência, foi lá... ... e disse: ‘Sim senhor, sou homossexual’. Eles perguntaram: ‘Com quem?’. E eu respondi: ‘Não lhes posso dizer, porque quando faço coisas, vou a um cinema e às vezes nem vejo a cara da pessoa que está envolvida comigo’. Quando ameaçaram pôr um agente a seguir-me na rua, disse-lhes: ‘Esse é o vosso trabalho, mas eu conheço muita gente que não é homossexual e vocês ainda vão ter algum desgosto’. Era assim, uma coisa absurda. Na verdade, a polícia tinha razão. É que eu era mesmo um vagabundo, sem emprego certo.
Como sobrevivia? Gastando o mínimo. A minha mãe ajudou-me muito.
O Mário ainda tem família, fruto dos casamentos das suas irmãs? Sobrinhos. Ainda tenho algum contacto com eles.
A sua irmã Henriette morreu há dois anos e meio. Tinha uma relação especial com ela, não tinha? Amávamo-nos muito. Quando lhe morreu o marido, voltou para casa dos pais. O nosso pai, entretanto, tinha ido para o Brasil com uma amante. Eu e a Henriette vivemos muito tempo juntos, numa verdadeira irmandade.
O Mário pensa na morte? Não muito. Penso mais nas doenças.
Acredita na imortalidade? Não sei. Quando lá chegar, eu telefono [risos]…
________________________________________________________
Na ditadura, Mário Cesariny descobriu com Alexandre O´Neill a revolução surrealista. Foi considerado suspeito de vagabundagem pela Polícia Judiciária e cultivou a homossexualidade sem medo. Viveu para a liberdade, o amor e a poesia, a bandeira dos surrealistas. Galardoado pela obra escrita e pela pintura, aos 83 anos continua na mesma.
O Mário nasceu em Lisboa, em 1923. Como era a sua vida familiar? Era a de uma família respeitável, com quatro filhos. O meu pai era industrial de ourivesaria. Ele e a minha mãe não se davam muito bem. Foi um mau casamento. Posso contar essa história, que é engraçada. A minha mãe, juntamente com a minha tia Henriette e o meu avô [Pierre Marie] Cesariny Rossi chegaram a Lisboa, de passagem para a América do Norte. Elas não sabiam uma palavra de inglês, mas queriam ir para lá ensinar não sei o quê. Nessa altura, havia as chamadas institutrices, raparigas que tratavam das crianças, mas não como criadas – também eram professoras, ensinavam línguas e bons modos. A tia Henriette e a minha mãe fizeram isso em Espanha, durante bastantes anos. Ensinavam Francês e coisas assim. Chegaram a Lisboa e ficaram por cá. Tornaram-se professoras num colégio, onde conheceram o meu pai e o meu tio. Para casar a minha mãe exigiu uma prenda de infanta. Sim, casava, mas queria uma prenda muito grande.
O Mário nasceu em Lisboa, em 1923. Como era a sua vida familiar? Era a de uma família respeitável, com quatro filhos. O meu pai era industrial de ourivesaria. Ele e a minha mãe não se davam muito bem. Foi um mau casamento. Posso contar essa história, que é engraçada. A minha mãe, juntamente com a minha tia Henriette e o meu avô [Pierre Marie] Cesariny Rossi chegaram a Lisboa, de passagem para a América do Norte. Elas não sabiam uma palavra de inglês, mas queriam ir para lá ensinar não sei o quê. Nessa altura, havia as chamadas institutrices, raparigas que tratavam das crianças, mas não como criadas – também eram professoras, ensinavam línguas e bons modos. A tia Henriette e a minha mãe fizeram isso em Espanha, durante bastantes anos. Ensinavam Francês e coisas assim. Chegaram a Lisboa e ficaram por cá. Tornaram-se professoras num colégio, onde conheceram o meu pai e o meu tio. Para casar a minha mãe exigiu uma prenda de infanta. Sim, casava, mas queria uma prenda muito grande.
Um dote? Queria que fossem viver para Paris. O meu pai concordou. Casaram e foram, em 1914. Chegaram lá, rebentou a guerra e voltaram para trás. Nós não nascemos em Paris por causa da Primeira Guerra Mundial.
Que recordações guarda da sua infância? O meu pai era de uma família de ourives do Norte. Gostavam de passar férias de Verão em Moledo do Minho, perto de Caminha, quase na fronteira. O Norte era muito livre de costumes. Rapazes e raparigas f.... Só o padre é que ralhava com elas, à saída da missa. Eu assisti a isso, ele dava-lhes caneladas e dizia: ‘Vais para o mato com eles...’ Elas riam-se. Não me dei bem com o meu pai, claro. Nenhum de nós se dava bem com ele. Quando casou com a minha mãe, gostava muito dela, mas depois não sei o que aconteceu. Talvez fosse o feitio dele. Batia-lhe. Éramos quatro filhos atrás da mãe, a defendê-la do pai.
Ele chegou a bater-lhe à vossa frente? Sim, mas gostava dela, à sua maneira. Tenho a impressão de que a minha mãe casou com ele na mira de ir para Paris.
É verdade que o seu pai queria que fosse ourives? Pois queria. Isso foi uma grande luta. Depois também não me deixou seguir música. Quando fazia exercícios ao piano, ele ficava doido. Tive de desistir.
Chegou a estudar com o Fernando Lopes-Graça… O Graça dava-me lições de graça. O paizinho não pagava isso.
A relação com o seu pai era, portanto, complicada. Era impossível. Tudo o que ele me propunha, eu não queria.
E com a sua mãe, como era? A mãe foi uma santa. Devo-lhe tudo, protegeu-me sempre
O Mário teve três irmãs. A Henriette, a Carmo e a Luísa.
Além de ser o mais novo, era o único rapaz… Era. E ainda por cima saí homossexual, imagine.
Acha que o seu pai soube? A minha mãe protegeu-me sempre, nunca se falou nisso com o meu pai. Mas acho que sabia. Uma vez mandou-me às p... e eu não fiz nada. Muitos anos depois, o meu cunhado mandou-me a uma menina e eu portei-me bem, mas vim de lá com uma dúvida horrível. Dei duas de seguida, sem prazer nenhum, e pensei que talvez acontecesse o mesmo às pessoas que iam comigo
Depois da primária, foi para a Escola António Arroio...
Antes disso, estive um ano no Liceu Gil Vicente, mas não era para seguir carreira, era para o meu pai saber se eu era estúpido ou não, se tinha boas notas.
E tinha? Tinha. Depois ele tirou-me de lá.
Como é que o Mário chegou à Escola António Arroio? O meu pai primeiro pôs-me lá para tirar o curso de cinzelagem. E tirei. Depois mudou-se isso para um curso de habilitação às Belas-Artes, por minha iniciativa. A escola tinha um bom director, o Falcão Trigoso, um velhote de barbicha que pintava amendoeiras floridas e coisas assim, mas que nos defendeu da mística do Salazar. Quando, por fim, o Salazar o pôs na rua, no dia seguinte entraram os uniformes da Mocidade Portuguesa, a separação dos sexos, as aulas de moral... Mas nós já estávamos precavidos por esse director.
Foi na António Arroio que conheceu a trupe surrealista? Quase toda. O António Maria Lisboa não andou lá, nem o Pedro Oom, nem o Risques Pereira. O Cruzeiro Seixas, sim, o Fernando José Francisco, sim. Não me lembro de mais…
Foi lá que desenvolveram as primeiras actividades? O Café Hermínius é que era a nossa academia.
Como é que surgiu o movimento surrealista em Portugal? Não havia bem movimento, havia um grupo. Movimento não se podia ter, por causa do Salazar. Foi uma época difícil para quem pintava. Foi difícil para toda a gente, com a ditadura, não é? Não havia galerias para expor, a não ser a do Estado – o Secretariado Nacional de Informação – e a dos velhotes conservadores – a Sociedade de Belas Artes. Nenhum desses salões nos convinha. A pintura passou a ser uma coisa pessoal, para nós. Nem pensávamos em expor.
Era sobretudo uma manifestação da vossa liberdade… Lembro-me que, uma vez, na primeira exposição que fizemos, em 1949, resolvemos fazer uma noite dos poetas, num aposento muito engraçado, todo forrado com figuras, que era da Pathé-Baby, ali ao pé da Sé Catedral. Lemos poemas do Victor Brauner, do André Breton, do Antonin Artaud e alguns nossos. Com uma certa encenação. Estilhaçámos uma data de vidros no chão e deitámos tinta. Mas a encenação, grande ou pequena, era só para nós, porque não foi lá ninguém, nem nós queríamos que fosse. Fechámos a porta à chave. E assim continuámos. A imprensa de Lisboa não dedicou uma linha à nossa exposição, mas a do António Pedro e do então Grupo Surrealista de Lisboa causou um escarcéu desgraçado. Até apareceu no jornal sonoro. O António Pedro tinha muitos conhecimentos, assustava muita gente, nós não assustávamos ninguém …
A ideia de fazerem para vocês tinha só a ver com o ambiente da época ou, no fundo, queriam mesmo que fosse assim? Nós fizemos uma revolução. Mas acho que implodimos, não explodimos. E andámos sempre clandestinos por aí. Clandestinos no sentido lato: fazer uma coisa num sítio e desaparecer, depois aparecer noutro e desaparecer… Até que houve as célebres sessões na Casa do Alentejo, em que fomos dizer ao povo o que era o surrealismo.
E o que era o surrealismo? Éramos nós [risos]. Lemos textos, poemas, e uma declaração chamada 'Afixação Proibida'. A assistência gostou muito e depois da sessão queria que explicássemos o que era o surrealismo.
Para o Mário, como começou o surrealismo? Estávamos eu e o Alexandre O’Neill muito incomodados com os neo-realistas e ele, uma vez, trouxe-me um livro em francês e disse: ‘Lê isto’. Era a História do Surrealismo, do Maurice Nadeau, que, no final do volume, dizia que os surrealistas já tinham dado o que tinham a dar. Mas o nosso começo foi aí.
Em que altura foi isso, mais ou menos? Em 1947.
Também nesse ano, foi a Paris e conheceu o André Breton… Fui. Mas eu já ia surrealista, não fui lá ser surrealista. Queria era conhecê-lo!
Como é que se deu esse encontro? Fui a casa dele, bati à porta e ninguém respondeu. Ele tinha um letreiro à porta a dizer: ‘Não quero entrevistas, não quero isto, não quero aquilo’. Eu deixei lá um papel: ‘Não quero entrevistas, não quero isto, não quero aquilo. Quero falar consigo’. Então, à segunda vez que lá fui, recebeu-me e combinei umas coisas com ele, que o António Pedro tratou de destruir, porque foi lá depois. Eu tinha a ideia de uma pequena publicação, uma coisa modesta, porque não havia muito dinheiro, nem havia razão para fazer muito barulho, por causa da polícia. O António Pedro falou com o Breton, pôs este projecto de parte e propôs a reedição da Variante, uma revista que ele fazia em grande luxo, com o surrealismo de todo o mundo e não sei o quê. Depois, não fez. Quer dizer, não houve a minha coisa modesta nem a coisa espampanante dele. Primeiro, pedimos colaborações para Nova Iorque, para Paris, para toda a parte. Depois de nos entregarem as coisas, ele decidiu que não havia dinheiro. Era mentira. Tivemos a lata de devolver tudo. Coisas dessas fizeram a minha saída do Grupo Surrealista de Lisboa.
E acabaram por conduzir à formação do grupo dissidente, Os Surrealistas. Pois… Uma parte do nosso grupo andava na António Arroio – tanto do grupo dissidente, como do oficial. Estava o Fernando Azevedo, o Vespeira, o Júlio Pomar... Quanto a nós, estávamos eu, o Cruzeiro Seixas, o Pedro Oom… Depois, estes três ou quatro trouxeram o Fernando José Francisco e fizemos uma exposição, em que entrou também o Carlos Calvet. A própria escolha do nome, Os Surrealistas, foi uma provocação, como quem diz: ‘Nós é que somos os verdadeiros’. A nossa simples existência já era uma provocação e quando a afirmámos publicamente, isso então foi um grande sarilho. Até que eles desistiram. Fecharam a loja sabe com que álibi? Com o da ‘discrepância de horários’. A gente também lhes fazia a vida negra, na Casa do Alentejo, naquelas sessões… Acabaram com o grupo e foram fazer teatro para o Apolo.
Depois das primeiras exposições, houve uma altura em que esteve algum tempo fora de Portugal... Onde estive mais tempo foi em Inglaterra. Com as idas e vindas, estive sete anos em Londres, na década de 60. Estava farto de latinos e fiquei a gostar dos anglo-saxónicos. Chamam-lhes hipócritas, mas eles não são. São actores. Estão sempre a representar Shakespeare. Um vagabundo chega à tabacaria e pede: ‘May I have a box of matches, please?’ Isto é linguagem de príncipe. ‘May I have’... ‘Poderei eu ter ...Uma caixa de fósforos’. Um vagabundo. Os outros são iguais ou ainda mais sofisticados. Já os americanos são uma espécie de ingleses a quem tiraram a inquietação, a metafísica. De maneira que eles andam muito contentes, ‘How are you?’, ‘Fine, thank you’. Com imensas dores de estômago porque a comida é muito má.
O Mário também costuma falar de uma estada em Paris, financiada com a venda de um quadro da Vieira da Silva… É verdade. Eu escrevi-lhe a dizer: ‘Maria Helena, estão a apertar muito o rabo do gato’. A polícia fazia-me lá ir como suspeito de vagabundagem. Então, a Vieira da Silva, através do Manuel Cargaleiro, deu-me um quadro dela, muito bonito. Eu só pedia dinheiro para a passagem, mas aquilo rendeu imensa massa, que eu fui conspicuamente gastar lá para fora. Como é que conheceu a Vieira da Silva? Ela veio a Lisboa, e eu escrevi um artigo a falar nela, porque ela era desconhecida por cá. Aconselhava-a a não se demorar muito, porque ainda ficava estragada. Ela gostou e quis conhecer- me. Fui conhecê-la ao ateliê dela e do Arpad Szenes, ali nas Amoreiras.
A partir daí, ficaram muito amigos. De resto, o Mário, sempre foi assim: capaz de grandes amizades, grandes amores e grandes ódios... ... Grandes nevoeiros... Foi o que aconteceu com o próprio grupo surrealista dissidente. Muitos de vós seguiram caminhos diferentes, com algumas rupturas pelo meio. A partir de certa altura, este grupo também se desfez. O Cruzeiro Seixas foi para África, o António Maria Lisboa morreu tuberculoso... Deixámos de nos procurar. E o Mário ficou isolado como representante do surrealismo em Portugal.
Não pensava nisso. Nem as pessoas acreditavam. Para elas, o António Pedro continuava a ser o grande surrealista. Com a democracia, esfuma-se a história do surrealismo.
O Mário continuou a escrever e a pintar, mas já sem aquele espírito de grupo. O José Escada, o pintor, fazia umas coisas em papel vermelho, e fez uns cravos, os cravos do 25 de Abril, com uma dedicatória bonita: ‘Ao Mário, que há muito tempo desconhece o perfume’.
Diz que a liberdade devia estar acima de tudo. É essa a essência do surrealismo? A liberdade, o amor, a poesia. É esta a tríade do surrealismo, que vem colocar-se ao lado, ou à frente, da liberdade, igualdade, fraternidade, da Revolução Francesa. Era essa a nossa bandeira.
E o Mário passou com a mesma paixão por todas essas três coisas… Como já lhe disse, a nossa descoberta do surrealismo não fez uma explosão, fez uma implosão. Também não era tempo de andar a falar alto. Íamos para a choça, o que não nos agradava muito. Os neo-realistas ficavam muito honrados quando iam presos. Nós não achávamos graça nenhuma [risos].
Diz que, para si, a pintura é mais terapêutica do que a poesia. Porquê? Na poesia tens de escrever se estás zangado, se estás optimista, se estás apaixonado. Coisas que na pintura não existem. Embora não seja, parece uma coisa mais impessoal. Não fala das dores de estômago ou das dores de cabeça, das dores de corno. O pincel não dá isso.
O que é que o pincel dá? Dá uma realização da pessoa, de que o quadro é a prova. Faz sentido perguntarem-lhe o que é que tem mais peso para si, se a pintura, se a escrita? À medida que fui agarrando mais a pintura… ou, ao contrário, à medida que ia deixando mais a poesia escrita, ia-me ocupando mais com a pintura. Com a poesia pintada, se quiser. A poesia morde mais o fígado: se odeia, odeia, se não odeia não odeia. A pintura parece uma coisa objectiva, fora de nós. Suja as mãos, limpa-se o pincel, há o cavalete e a tela. A poesia não. É apenas entre a nossa cabeça e o papel.
Costuma falar muito do ambiente, de como a Lisboa de hoje já não é a mesma, queixa-se da falta dos cafés...
A Lisboa do nosso tempo acabou. Os cafés onde a gente se reunia desapareceram, começaram por pôr lá a televisão. Ora, é impossível não olhar para uma televisão ligada. Já não podíamos estar à vontade. Estávamos ali metidos para perder a vida, para não trabalhar em escritórios e aturar o patrão nojento. Éramos, de facto, todos vagabundos. Embora eu é que tenha merecido a honra de ser considerado suspeito de vagabundo pela polícia. No fundo, só o 25 de Abril é que acabou com isso. Em compensação, também dissipou a atmosfera de encontro que havia dantes. Hoje está cada qual no seu buraco.
Como é que lida com o reconhecimento que tem recebido nos últimos anos? Não dou muita atenção a isso, sabe? Recebi com alegria a Ordem da Liberdade, porque era a Ordem da Liberdade. Liberté chérie! Agora vivo num deserto. Tenho alguns amigos, muito poucos. Mas realmente não há onde ir, em Lisboa. Quer dizer, para mim, porque a gente mais nova junta-se nos pubs, com a música muito alta, para não terem de falar eles. Nem falar, nem pensar.
Em Outubro vai editar um livro de serigrafias, em homenagem a Timothy McVeigh, condenado àmortepelo atentado em Oklahoma. O que pensa da pena de morte? Não devia ser permitida. Ele também não devia ter morto 700 pessoas. Mas olho por olho, dente por dente é a selvajaria.
Abriu no dia 20 de Setembro, no Círculo de Belas Artes, em Madrid, uma retrospectiva dedicada à sua obra. Como se sente em relação a isso? A minha perna não me deve deixar ir lá, o que é uma chatice, mas por outro lado é bom. Eles que se distraiam uns aos outros. É claro que fico contente por ter uma exposição em Madrid, mas por outro lado não ligo nenhuma. Estou-me bastante nas tintas. Não digo isto aos organizadores, mas é a verdade. Quero lá saber!
Já o ouvi dizer qualquer coisa do estilo: está o poeta, o artista, no pedestal, e depois volta para casa sozinho. O Mário sente-se só? Acho que sim. Sinto-me só, com as minhas ideias, que me fazem companhia, e com um ou outro amigo que ainda existe, com quem fizemos batalhas, como o Cruzeiro Seixas ou o Fernando José Francisco… Ou o Mário Henrique Leiria, que morreu, o António Maria Lisboa, que morreu, o Pedro Oom, que morreu, o Henrique Risques Pereira, que morreu, o Fernando Alves dos Santos, que morreu... Tenho de me sentir sozinho. Estava escrito que eu ia durar até aos 80 e tais.
Como lida com a idade, como envelhecimento do corpo? A idade põe-me uma série de chatices físicas que me impedem de atingir a metafísica. São coisas várias que me ocupam e me impedem de circular normalmente.
Mas a cabeça está óptima… Acha?
E o Mário, o que acha? A cabeça tem um órgão vital à disposição, chamado Eros, a vida erótica, que me faz falta, porque essa vida para mim acabou. Se o cérebro ainda pia alguma coisa, é muito de admirar [risos] …
Fica a liberdade e a poesia… Fica… Já não é pouco…
O Mário apaixonou-se muito? Acho que a vida sem paixão é um deserto.
Mas o grande amor, aquele de que falam os poetas, encontrou- o? Talvez tenha encontrado e não tenha dado por isso. Houve realmente um amor importante, com uma pessoa que já morreu. Um amor que acabou muito mal, com a PIDE metida na nossa cama, uma coisa horrível. Acho que depois disso, dados os resultados concretos, troquei a Grécia por Roma. Sabe o que eu quero dizer? Há o Eros mental e depois há o que se espalha pelo corpo, que é outra coisa.
Não quer explicar melhor? A Grécia foi um amor que eu tive com um moço. Ele depois foi para a tropa e escreveu-me uma carta que a PIDE leu. Ele ia indo parar a África por causa disso, porque dizia: ‘Não sei quando saio da tropa. Os nossos patrões, os americanos, é que devem saber’. A PIDE pegou naquilo e meteu-o na cadeia. Mas a carta era também uma carta de amor, sabe? De maneira que era demasiado horroroso ter a PIDE na cama connosco. E assim começou a Roma: mais sexo do que amor.
Nunca mais se encontraram? Encontrei-o esporadicamente, já sem elo amoroso.
Voltou a ter esse elo com alguém? Não.
É por isso que diz que trocou a Grécia por Roma. Não imagina a quantidade de pessoas que eu fiz.
Há até uma frase sua, em que diz: ‘Rapazinhos por dia, dois, marinheiros, três’. [risos] Eu tinha um amigo espanhol que estava cá, o Francisco Aranda, que conhecia um inglês, daqueles muito sofisticados, aristocratas, mas muito inteligentes. Ele veio cá e o Aranda apresentou-mo. Estávamos na conversa, eram cinco e meia: ‘Tea Time’. É hora do chá. Eu pensei: ‘Espera aí que já te dou o chá’. Então, fomos com esse amigo inglês assistir à saída da Marinha. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte voltou para Londres – não teve nenhum caso, foi só de ver – arrumou as coisas dele e veio viver para cá. Nessa altura, os marinheiros recebiam o fardamento e iam à costureira para o ajustar bem. Quase se via o contorno do sexo. Eles tinham vaidade nisso, além de que havia gente bonita.
Nessa altura, sendo tudo tão escondido, eram assim tão fáceis os contactos sexuais entre homens? Cheguei a publicar num jornal uma coisa que hoje não se entende: Portugal era o país mais homossexual do mundo. E não era só a Marinha. O 25 de Abril, com a libertação dos homossexuais, também libertou a Marinha desse hábito. Passaram a considerar-se uns homenzinhos que não fazem essas coisas. Agora fazem entre eles ou com um tenente qualquer. Não sei o que os chefes lhes disseram, mas realmente não apareceram mais os marujos. Mas apareceram os comandos. Todos os dias havia passagem de comandos na estação do Rossio, para engate.
Qual é a sua opinião sobre as manifestações do orgulho gay, hoje em dia? Acho feio, porque em vez de aparecerem como pessoas normais, põem umas mamas, pintam-se, ficam uns verdadeiros abortos. E saem assim para a rua. Eu, que sou homossexual, se encontrasse aquilo na rua, passava para outro passeio, porque em vez de angariarem simpatia, ofendem.
Quando é que o Mário tomou consciência da sua homossexualidade? Nos meus tempos da António Arroio, já sabia.
Mas nessa altura não era uma coisa que fosse falada. Como é que lidou com essa descoberta? Lidei conforme podia. O que fazia era em segredo, sempre. Tem a ver com a Lisboa dessa época. Havia urinóis espantosos, que eram sítios de encontro. Estavam sempre cheios. Muitas vezes, quem queria mesmo mijar, ficava aflitíssimo, porque as pessoas não saíam de lá [risos].
Que idade tinha quando teve as primeiras experiências? Foi para aí em 1942 ou 43.
Chegou a confessar a sua homossexualidade às autoridades. Quer contar como foi? Isto era assim: três vezes apanhado na rua com outro senhor, dava direito a ser mandado para a Polícia Judiciária. Depois, a Judiciária teve-me como suspeito de vagabundagem todo o tempo que quis. Não queriam provas, queriam a suspeita, porque a suspeita podia continuar sempre.
Então, um dia, perdeu a paciência, foi lá... ... e disse: ‘Sim senhor, sou homossexual’. Eles perguntaram: ‘Com quem?’. E eu respondi: ‘Não lhes posso dizer, porque quando faço coisas, vou a um cinema e às vezes nem vejo a cara da pessoa que está envolvida comigo’. Quando ameaçaram pôr um agente a seguir-me na rua, disse-lhes: ‘Esse é o vosso trabalho, mas eu conheço muita gente que não é homossexual e vocês ainda vão ter algum desgosto’. Era assim, uma coisa absurda. Na verdade, a polícia tinha razão. É que eu era mesmo um vagabundo, sem emprego certo.
Como sobrevivia? Gastando o mínimo. A minha mãe ajudou-me muito.
O Mário ainda tem família, fruto dos casamentos das suas irmãs? Sobrinhos. Ainda tenho algum contacto com eles.
A sua irmã Henriette morreu há dois anos e meio. Tinha uma relação especial com ela, não tinha? Amávamo-nos muito. Quando lhe morreu o marido, voltou para casa dos pais. O nosso pai, entretanto, tinha ido para o Brasil com uma amante. Eu e a Henriette vivemos muito tempo juntos, numa verdadeira irmandade.
O Mário pensa na morte? Não muito. Penso mais nas doenças.
Acredita na imortalidade? Não sei. Quando lá chegar, eu telefono [risos]…


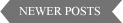



0 COMENTÁRIO(S):
Post a Comment